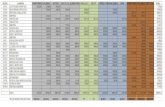Revista Obscena #16/17
-
Upload
pedro-semedo -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
description
Transcript of Revista Obscena #16/17
Director Tiago Bartolomeu Costa | [email protected]
Sub-director Francisco Valente | [email protected]
Editor de Imagem Martim Ramos/Kameraphoto | [email protected]
Colaboram neste número Adolfo Mesquita Nunes, André Dourado, António Quadros Ferro, António Pinto Ribeiro, Cristina Leonardo, Elisabete França, Eugénia Vasques, Florent Delval, Franz Anton Cramer, Gérard Mayen, João Carneiro, José Luís Ferreira, José Soeiro, Luiz Oosterbeck, Luís Serpa, Miguel Magalhães, Pedro Costa, Sérgio Treffaut e Tiago Manaia
Direcção de Arte Pixel Reply | www.pixelreply.com
Logotipo MERC
Publicidade publicidade@revistaOBSCENAcom
Agradecimentos Gustavo Veiga, Pedro Pires/ Teatro Praga
Fotografia da capa: © Martim Ramos/Kameraphoto
Assinaturas e informações [email protected] informações devem ser enviadas até dia 8 de cada mês
A OBSCENA aceita propostas de colaborações de leitores. Os materiais publicados são da responsabilidade dos respectivos autores, estando sujeita a autorização expressa a sua reprodução total ou parcial.
www.revistaOBSCENA.com
A OBSCENA – revista de artes performativas é membro da TEAM Network (Transdisciplinary European Art Magazines) | www.team-network.eu
A OBSCENA – revista de artes performativas é uma co-edição OBSCENA – Associação e Pixel Reply Lda.
Depósito Legal 274919/08 ICS 125414 ISSN 1646-9658
Periodicidade Bimestral
A OBSCENA-revista de artes performativas recebe o apoio de
O ORÇAMENTO DO ESTADO A QUE ISTO
CHEGOU1. Na véspera de um ano de eleições era grande a expectativa quanto ao Orçamento de Estado para a Cultura, para mais tendo como pro-tagonista alguém que prometia trazer ao Palácio da Ajuda a com-petência jurídica necessária para arrumar a casa e prepará-la para os últimos anos que podem contar com as verbas da União Europeia. O último quadro comunitário de apoio vai até 2013 e, depois dessa data, Portugal deverá apresentar-se como o bom aluno que soube rentabilizar os fundos, consolidando um tecido frágil e dependente da intervenção estatal. As Grandes Opções do Plano para 2009 indicam-nos tudo menos isso e as trinta páginas que dedicamos ao Orçamento de Estado mostram bem como estamos longe de uma concertação – política, social, económica e cultural -, que traduza o esforço feito e trabalhe para uma maior evolução discursiva e financeira. O trabalho que lhe apresentamos, se é o resultado natural de quase dois anos de intervenção pública no domínio das políticas culturais é, também, a demonstração, cada vez mais forte, de que não pode haver a defesa dos grandes, e genuínos, valores da arte e da cultura num sistema de permanente precariedade. O “estado a que isto che-gou”, para recuperar as palavras do Capitão Salgueiro Maia, carece de uma mais activa e responsável attitude. Um número como 0,4% não é só o espelho da “falta de credibilidade do Ministério da Cultura”, na expressão de José António Pinto Ribeiro, Ministro. É também um número que traduz a conformação habitual e o descrédito que, todos os dias, dedicamos à área que, nunca é suficiente recordar, mais con-tribuiu para o produto interno bruto da União Europeia. Se é pouco é também porque não soubemos exigir mais.
2. Carlos Porto faleceu a 29 de Outubro. Eminente crítico e presi-dente honorário da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, a sua obra – nomeadamente 10 anos de teatro e cinema em Portugal, 1974 – 1984 (com Salvato Teles de Menezes, Editorial Caminho, 1985) e Em Busca do Teatro Perdido, 2 vols. (Plátano Editora, 1973) - per-manecem como exemplo do que deve ser o olhar de fora da cena, o sentido etimológico da palavra obscena. Quando nos preparamos para celebrar o segundo aniversário desta revista, é o seu exemplo de generosidade crítica que queremos prosseguir.
3. E você, vestia a camisola da OBSCENA?
Tiago Bartolomeu Costa
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
7 EDITORIAL
textos Miguel MagalhãesJosé SoeiroAdolfo Mesquita NunesJosé Luís FerreiraLuiz OosterbeekCristina LeonardoSérgio TreffautLuís SerpaPedro Costa
NA PARTIDA DE CARLOS PORTO (1930-2008)
texto Eugénia Vasques
O MERCADOR DE VENEZADE WILLIAM SHAKESPEARE,
ENCENAÇÃO DE RICARDO PAIStexto João Paulo Sousa
DANIEL JONASO MERCADOR DE VENEZA
EM NOVA TRADUÇÃOtexto Elisabete França
LA DANSEUSE MALADECOREOGRAFIA DE BORIS CHARMATZ
texto Gérard Mayen
L'APRÈS-MIDI (D'UN FAUNE)COREOGRAFIA DE RAIMUND HOGHE
texto Franz Anton Cramer
GOING TO THE MARKET, TWO DRAWINGS e MY FATHER'S DIARY
PERFORMANCES DE GUY DE CONTETtexto Florent Delval
BERLIM - SÃO PETERSBURGO225 ANOS DO TEATRO
MARIINSKY EM BERLIMtexto João Carneiro
BESTAS DE LUGAR NENHUM,DE UZODINMA IWEALAtexto António Quadros Ferro
MR. NORRIS CHANGES TRAINS E GOODBYE TO BERLIN DE CHRISTOPHER ISHERWOODCABARETENCENAÇÃO DE DIOGO INFANTEtextos João Carneiro e Tiago Bartolomeu Costa
JOGO DE CENAFILME DE EDUARDO COUTINHOtexto Tiago Manaia
ESPECTÁCULOS
LIVROS
FILMES
9
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ÍNDICE
38
10
42
44
48
50
52
54
46
68
72
56
60
62
66
70
O PORQUÊDE UM DOSSIÊ
ORÇAMENTO DE ESTADO 2009
ARRITMIA
DIAS DO JUÍZO
(RESPEITANDO JÁ
O ACORDO ORTOGRÁFICO)
O PORQUÊ
ÍNDICE
DE UM DOSSIÊ
Coordenado por Adolfo Mesquita Nunes, André Dourado, José Soeiro, Miguel Magalhães e Tiago Bartolomeu Costa. Concepção visual de Martim Ramos/Kameraphoto
ORÇAMENTO DE ESTADO PARA A CULTURA:ESBOÇO DE UMA RESPOSTAtexto Miguel MagalhãesUM MINISTÉRIO EM VIAS DE EXTINÇÃO?texto José SoeiroUM NOVO PARADIGMA NAS RELAÇÕES ESTADO/PRIVADOS?texto Adolfo Mesquita Nunes
MAIS POR MENOStexto José Luís FerreiraPATRIMÓNIO CULTURALMAIS UM POUCO DO MESMOtexto Luiz OosterbeekEDUCAÇÃO ARTÍSTICA E ENSINO ARTÍSTICOtexto Cristina Leonardo
CINEMA E AUDIOVISUAIStexto Sérgio TreffautPOLÍTICA CULTURAL PORTUGUESANA ERA DA GLOBALIZAÇÃO
texto Luís SerpaECONOMIA DA CULTURA
texto Pedro Costa
12
14
18
22
24
27
28
32
34
10
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIAO. E. 2009
Num país em que o Orçamento de Estado é, no que respeita ao sector da Cultura - e a quase todos os outros sectores da vida nacional - a sua princi-pal fonte de financiamento, a OBSCENA não podia deixar de ignorar o OE 2009, tanto mais que sendo o último deste Governo é o primeiro do actual Mi-nistro da Cultura.Sendo o último deste Governo de José Sócrates, pode dizer-se que vem confirmar que, no discurso e na prática, a Cultura não foi uma sua prioridade. A única preocupação notória do Primeiro-Ministro neste sector foi a duvidosa solução encontrada para a Colecção Berardo e a remodelação gover-namental que nela gerou uma quase radical mu-dança de discurso que se pode pensar sê-lo tam-bém de política.É neste sentido que se podia perceber que as op-ções do plano, elaboradas por um novo Ministro, revelassem novidades, mas não de uma forma tão radical que parece estarmos perante um projecto para quatro anos e não apenas para um, quando o que seria de esperar era que este fosse o ano da consolidação das políticas elaboradas há mais de trés anos no princípio da actual legislatura. José António Pinto Ribeiro aceitou o cargo já com um orçamento aprovado e consciente de que aque-le que teria a sua assinatura seria também um profundamente afectado por inevitáveis pressões eleitoralistas. O que, por maioria de razão, invali-dava o sentimento (fatal, infeliz ou pragmático, de-pendendo da crença) de “fazer mais com menos”.De facto, as Grandes Opções do Plano para 2009 apresentam mais um decréscimo orçamental, ao mesmo tempo que, fixando-se em três eixos – Lín-gua, Património e Indústrias Criativas e Culturais - que não só não indicam nada de novo como gene-ralizam prioridades, abrem largas à imaginação retórica e à promessa que se pressente (para não dizer que se sabe) falha e, consequentemente onerosa para os que se seguirem. E mesmo que em Novembro de 2009 o Partido Socialista repita a vitória, dado o historial sucessório de ocupantes do Palácio da Ajuda, nada nem ninguém nos garante que o actual seja também o próximo Ministro. Ele próprio, já veio dizer que “o Ministério da Cultura não tem credibilidade”, muito pela herança obtida. O que dá todo um novo significado às declarações do Ministro que, em Comissão Parlamentar no passado dia 19 de Novembro acusou os anteriores Ministros de “nos ultimos anos desperdiçarem a oportunidade de executar, de gastar bem, um
orçamento annual inteiro do MC”, ficando por executar “um total de 259 milhões de euros”. Ou seja, mais do que a verba prevista para 2009: 212,7 milhões de euros. Acreditando ser capaz de inverter a norma, José António Pinto Ribeiro anunciou medidas para evitar o desperdício através de uma “execução orçamental aturada e rigorosa” (Público, 20 Novembro).Ora, o Ministro parece não perceber que o senti-do de Estado não permite disparar sobre os seus antecessores para se desculpar ainda antes de ter mostrado trabalho, querendo à força ignorar que todos eles herdaram uma situação na qual “não tinham responsabilidades” e tiveram que a gerir como ele (e o único que não a herdou por a ter criado, Manuel Maria Carrilho, teve as dificul-dades inerentes à nova situação – e que, tendo criado um novo paradigma, não está, natural-mente, isento de “culpas”).Mas sejam ou não verdadeiras as declarações ao jornal Expresso de 15 de Novembro1, uma atribuição orçamental é sempre um teste ao peso politico de um Ministro e, dados são dados: 0,4% não é pouco. São amendoins de tesouraria.Amendoins esses que prolongam o desequilíbrio entre as Artes e a nova prioridade das Indústrias Culturais e Criativas, por um lado, e o Património, por outro; é omisso quanto às obrigações dos contratos-programa das Entidades Públicas Em-presariais (EPEs) - Teatro Nacional D. Maria, S. João e OPART (Companhia Nacional de Bailado/ Teatro Nacional S. Carlos); e apresenta um pro-grama de intervenção ao nível da língua, tenden-cialmente ideológico e perigosamente perene.
Este dossier é, por isso, uma plataforma de discussão, tão alargada quanto o tempo e a disponibilidade dos nossos colaboradores per-mitiram. Ao longo das próximas páginas dedi-camo-nos a observar o modo como nas Grandes Opções do Plano se traçam as linhas identitárias de uma politica cultural. Não sendo exaustivo na abordagem temática, e sendo assumidamente interventivo, este dossier não quer apenas diag-nosticar a situação. Não só esse trabalho está feito (nomeadamente nos vários dossiers que desde Outubro de 2007 temos vindo a publicar), como está na altura de enfrentarmos, com o pragmatismo equivalente à convicção ministe-rial de que este é o Orçamento e o plano indicado para “fazer mais com menos”.
1 Veja o desmentido em: http://www.parlamentoglobal.pt/parlamentoglobal/multimedia/video/2008/11/19/191108_CULTURA_EXPRESSO.htm
11
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ORÇAMENTO DE ESTADO
PARA A CULTURA: ESBOÇO DE UMA RESPOSTA
Na sequência do guião de entrevista
proposto ao Ministro da Cultura pela
OBSCENA no passado mês de Junho
– tentativa de entrevista nunca obtida -
procurámos encontrar algumas dessas
respostas na proposta de Orçamento de
Estado para o Ministério da Cultura para
2009 (entretanto aprovado na generali-
dade pela maioria socialista).
texto Miguel Magalhães
A análise do relatório das políticas sectoriais que acompanha
a Proposta de Lei 1 permite encontrar algumas dessas res-
postas, embora raras vezes se resumam a mais do que uma
declaração de intenções (por exemplo: “Ao longo do ano,
serão reforçados os mecanismos de parceria interministe-
rial para garantir maior eficácia à intervenção cultural do
Governo”; nada mais é acrescentado).
O referido guião (disponível na OBSCENA 13/14, Junho/
Julho 2008) cobria essencialmente as seguintes áreas: o
subfinanciamento e a estrutura orgânica do Ministério da
Cultura, a articulação interministerial e como esta se reflec-
tiria nas questões relacionadas com a assinatura do Acordo
Ortográfico ou mesmo com o plano de promoção do Algarve
desenhado pelo Ministério da Economia, no Verão passado; o
audiovisual e os seus modelos de financiamento, o estatuto
dos profissionais do sector cultural, o património e o ensino
artístico, o apoio às artes, a mobilidade, a representação in-
ternacional, o mecenato e as questões relacionadas com a
economia da cultura.
Naturalmente, nem todas estas questões têm de ser respon-
didas pelo Orçamento de Estado, mas no caso deste Ministro,
que apresenta o seu primeiro orçamento, este documento
carrega uma carga simbólica adicional, sendo a forma mais
aproximada, nesta altura, para aferir as suas ideias para o
sector.
Um orçamento de crise
O orçamento para o Ministério da Cultura para 2009 deverá
cifrar-se em 212,6 milhões de euros, correspondendo a 0,4%
do Orçamento de Estado. Mesmo não fazendo a defesa da
demagógica mate do 1% do PIB, não deixa de ser um pouco
constrangedor o peso da Cultura no Orçamento de Estado.
À primeira vista parece haver uma preocupação em estrutu-
rar em eixos prioritários de acção (Língua, Património, Artes
e Indústrias Criativas e Culturais), aliás, à semelhança do que
Manuel Maria Carrilho fez nos anos 90. O principal destaque
é dado às questões da Língua, como vem sendo anunciado
desde que este Ministro tomou posse no início do ano. São
apresentadas um conjunto de iniciativas para a promoção da
Língua, tanto ao nível das redes existentes, e a criar, da CPLP
mas também ao nível da digitalização de arquivos e corres-
pondente disponibilização online. Ao nível do património
anuncia-se um pacote abrangente de investimentos de rea-
bilitação do património edificado, assim como a disponibili-
zação ao público dos acervos bibliotecários e de imagens. É
anunciada a criação de um fundo de capital de risco para a
promoção das indústrias culturais e criativas e um conjunto
de medidas acessórias de promoção das mesmas activi-
dades. Há também referências a ajustamentos na atribuição
de subsídios a fundo perdido na área dos audiovisuais e a um
alargamento aos possíveis beneficiários do apoio do Estado
às Artes. Por fim, faz-se uma breve referência ao plano de
promoção e internacionalização das artes nacionais para o
ano de 2009, nomeadamente o plano de participações em
eventos internacionais, tais como a Bienal das Artes Visuais
de Veneza ou a Bienal de Arquitectura de S. Paulo.
Não querendo promover uma leitura enviesada das Grandes
Opções do Plano, ficam, no entanto, muitas das questões por
responder e que deveriam apontar uma maior definição es-
tratégica do actual Ministério da Cultura. Questões como a
selecção e formação de quadros especializados do sector cul-
tural ou relacionadas com o estatuto dos profissionais do sec-
tor continuam por resolver. Um assunto delicado, e também
por responder, diz respeito à posição do Ministério da Cultura
em relação ao Ensino Artístico e à necessária articulação in-
terministerial como garante das condições necessárias para
uma adequada aprendizagem das disciplinas artísticas, tanto
no ensino geral como profissionalizante e especializado. Não
encontrámos quaisquer sinais, de igual forma, no sentido da
promoção de formação artística avançada, grande lacuna na
formação da classe artística portuguesa e único garante de
fixação dos mesmos no país. Nos últimos anos, temos assis-
tido ao movimento de jovens e adultos qualificados que pro-
curam no exterior mais e melhor formação ou simplesmente
empregos para o exercício das suas qualificações, sendo que
a classe artística é uma das classes profissionais mais atingi-
das por esse fenómeno.
Em suma, se quiséssemos fazer o exercício de fazer da
análise deste orçamento uma reacção parcial às principais
questões colocadas ao senhor Ministro no mês de Junho,
12
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
Falar em quanto vale o sector passa por saber quanto se gasta, efectivamente, em cultura em Portugal. Normal-mente olha-se apenas para o Orçamento do Ministério da Cultura e eventualmente pensa-se nos gastos culturais da Administração Local. No entanto, e a título de exemplo, este ano há que olhar também para o Ministério das Finan-ças, onde estão as três entidades públicas empresariais - os teatros nacionais (D.Maria II e S. João) e OPART (S. Carlos/Companhia Nacional de Bailado) e para o Ministério da Economia e Inovação, que gere projectos como o do Nú-cleo Museológico de Belém/Museu dos Coches (já para não falar do apoio a eventos diversos promovidos pelo Instituto do Turismo de Portugal).Objectivamente, deve contabilizar-se o orçamento do Ins-
tituto Camões (sob tutela do Ministério dos Negócios Es-trangeiros) como despesa cultural, bem como o orçamento parcelar que as Fundações destinam a esta área, o de todas as instituições que mantêm museus (caso de outros Minis-térios e muitas empresas públicas e privadas), os quanti-tativos de bolsas e prémios independentemente de quem os atribui desde que tenham recorte cultural, etc. E, para ser bem preciso, tentar ainda perceber quais os custos que a Igreja Católica - com o Estado a grande detentora de património cultural no nosso país - tem com a manutenção e conservação do seu património imóvel e móvel com valor cultural e, porque não, identificar o consumo privado em bens e serviços culturais. Amplo programa para um ano.
Língua, Património ou Economia da Cultura são áreas de ac-tuação importantes, mas não constituem verdadeiramente uma orientação estratégica de longo prazo. O investimento na reabilitação do património ou a promoção do emprego criativo e da língua estão em consonância com algumas das tendências contemporâneas no domínio do policy-making cultural internacional. No entanto, este orçamento e a politi-ca sectorial proposta não parecem resolver ou sequer atacar os problemas estruturais do sector cultural português.
Que politica cultural?Numa área como a Cultura o dinheiro nunca é suficiente e, num país como Portugal, o financiamento das mais diversas áreas artísticas ou a reabilitação do património assume um peso fundamental, não só para a sobrevivência dos profis-sionais do sector ou das instituições culturais, mas porque numa economia de serviços, com ambições ao nível do turis-mo mais ou menos qualificado, o património edificado exige algumas condições. Por outro lado, as políticas culturais em Portugal nunca promoveram a emancipação das instituições e dos seus profissionais da dependência do financiamento estatal. E, na realidade, também não é este orçamento que se propõe fazer isso. Ou seja, nada é referido quanto à eterna questão da devolução de poder às instituições culturais, a outorga de uma maior autonomia administrativa e financeira às organizações dependentes do Estado. Uma devolução que obrigue as ditas organizações a encontrar mecanismos de financiamento alternativos aos providenciados pelo Estado, e a definir de forma independente, dentro do respeito pela sua missão fundacional, o seu campo de actuação. Este mecanismo devolutivo está intimamente relacionado com a promoção de novos modelos de governação das mesmas or-ganizações. Quando nos referimos a organizações culturais não referimos só às da esfera do sector público, mas tam-bém às do sector privado, que tem de lidar com questões semelhantes ao nível do bom governo das suas orgânicas, e que, de uma forma ou outra, contam com a generosidade do financiamento estatal .
Esta proposta de orçamento de Estado ainda não traz as respostas necessárias às questões mais prementes que se colocam ao sector cultural português e que estão, na sua maioria a montante de todos os eixos prioritários de acção propostos. Parece-nos que o principal problema e que, im-plicitamente, comportaria uma mudança de paradigma do modo de funcionamento do relacionamento entre o Estado e o sector da cultura, tem a ver com a necessidade de in-verter esse relacionamento. Este deverá fazer-se de baixo para cima, ou seja a devolução de poder e responsabilidades, referida anteriormente, deveria significar uma maior inde-pendência na condução e gestão das instituições, com impli-cações ao nível do financiamento das artes, da promoção do património material e imaterial ou da formação de quadros, entre tantas outras dimensões. Esta inversão deve, em úl-tima análise, libertar o próprio Ministério da Cultura dos mais diversos encargos, obrigações e responsabilidades, di-sponibilizando os seus recursos de forma menos onerosa e mais diversificada.
QUAL O PESO DA CULTURA NO ORÇAMENTO DE ESTADO?
1 Consulte o documento em http://www.dgo.pt/OE/2009/Proposta/Relatorio/rel-2009.pdf. A secção relativa ao Minsitério da Cultura encontra-se entre as páginas XX e XX.
13
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOO. E. 2009
EM VIAS DE EXTINÇÃO?Desde 1996 que se tornou um dado relativamente adquirido a existência de um Ministério da Cultura em Portugal. Pas-saram, entretanto, 12 anos e balanços contraditórios se poderiam fazer acerca do caminho percorrido.A cultura é um território de disputa, como o são todos os campos sociais. Trata-se sempre de uma luta pela legi-timidade das classificações e pela inclusão ou exclusão, na noção de cultura, de um conjunto de práticas que, de modo genérico, poderíamos relacionar com a mediação simbólica da nossa existência. As políticas culturais, bem como o peso relativo que lhes é atribuído no Orçamento de Estado, estão no coração dessa disputa. Seria, evidentemente, absurdo avaliar as políticas culturais apenas pelo dinheiro que lhes cabe num Orçamento. As dinâmicas culturais não depen-dem exclusivamente da acção directa do Estado, como nem sempre são reféns completas do mercado – realidades tão diferentes quanto as contra-culturas urbanas, a produção independente e não financiada ou a disseminação de consu-mos culturais resultantes das novas tecnologias poderiam ser alguns exemplos para pensar.
texto José Soeiro
UM MINISTÉRIO
Os números falam por si e fazem sombra à ambição das Grandes Opções do Plano traçadas pelo Ministro da Cultura. Pode haver discurso se não existirem verbas? As dinâmicas culturais não dependem exclusivamente da acção directa do Estado, como nem sempre são reféns completas do Mercado, mas o Estado tem um papel a cumprir. E orçamento?
Fonte: Relatórios do Orçamento do Estado
14
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
Contudo, o Estado tem um papel determinante, entre outros
aspectos, na criação de equipamentos culturais, na preser-
vação do património material e imaterial, no apoio às artes e
à criação, na promoção de uma democracia cultural que crie
condições de diversificação dos repertórios de todos. Esse
reconhecimento do papel das políticas públicas, que faz hoje
consenso no discurso político e no senso comum hegemónico,
não significa que elas próprias não sejam atravessadas por
diferentes concepções e perfis ideológicos: mais ou menos
mercantis ou condicionadas pelo mercado; mais ou menos
patrimonialistas; invocando a cultura enquanto uma espécie
de “reserva da memória”, da “consciência colectiva”, da iden-
tidade ou até da “essência nacional”, ou reconhecendo-lhe
o carácter múltiplo, histórico e conflitual; acentuando mais
ou menos a promoção da criação e da inovação culturais; de
pendor mais elitista ou mais democratizador; o que é certo
é que a política cultural nunca é neutra. E a força de uma
política pública democrática, recusando o paternalismo e a
tentação da instrumentalização, é exactamente defender o
carácter de serviço público da cultura, a especificidade dos
bens culturais, a necessidade de um mercado assistido que
retire a cultura das meras lógicas de acumulação de capital,
sejam elas mais ou menos selvagens, que constituem um en-
trave à liberdade de criação.
O Orçamento de Estado, porque exprime as escolhas sobre o
papel do Estado e as prioridades das políticas públicas, per-
mite então avaliar a importância dada às políticas culturais. E,
de um modo mais concreto do que a discussão das nomencla-
turas e das estruturas orgânicas da tutela, é a oportunidade
de perceber qual é de facto o peso relativo desta área quando
se decide o que é importante para o país.
Um breve olhar sobre a evolução das verbas atribuídas ao
Ministério da Cultura no total da despesa do Estado permite
tirar duas conclusões imediatas. Em primeiro lugar, que essa
verba tem estado muito longe do mítico 1%, número fétiche
importado de França, mas que constitui uma meta simbólica
sobre o reconhecimento real deste sector na política de um
Governo. Mas, além disso, permite verificar que as verbas
reservadas à Cultura têm descido, em termos relativos, de
forma contínua e acentuada nos últimos 8 anos. Mesmo em
números absolutos, essa verba sofre variações, mas não tem
uma tendência de aumento progressivo – o que deve ser caso
único, se comparado com os restantes sectores do Estado. O
ano de 2009 acentuará esta tendência de forma expressiva: o
Orçamento voltará a diminuir. O Ministério da Cultura, irre-
levante já, caminha progressivamente para a inexistência.
A discussão sobre o Orçamento de Estado para 2009 fica mar-
cada, idelevelmente, por outros episódios que marcaram as
escolhas políticas dos últimos dois meses: o aval de 20 mil
milhões de euros para os bancos e a nacionalização do BPN,
um banco com um buraco que se aponta ser de 800 milhões
de euros, resultado de uma gestão incompetente e de opera-
ções de falsificação contabilística e aventuras em off-shores,
buraco esse que será coberto pelo dinheiro dos contribuintes.
Este contexto torna ainda mais ridículo o valor de que falamos
quando falamos do orçamento para a Cultura. É que o total
desse orçamento é pouco mais de ¼ do buraco do BPN que os
nossos impostos vão pagar. E é, já agora, cerca de um décimo
do orçamento reservado para a Defesa no próximo ano. Só
isto, poderia ser um tosco retrato do país.
Mas a discussão acerca do Orçamento para este ano tem ain-
da uma outra particularidade. É que, e daí a vantagem de um
comparação minimamente diacrónica, ele consagra o desres-
peito do compromisso do Governo de, “em matéria de finan-
ciamento público da cultura”, “reafirmar o sector como prior-
idade na afectação dos recursos disponíveis”, estabelecendo
“neste sentido, a meta de 1% do Orçamento de Estado dedi-
cada à despesa cultural”, como “referência de médio prazo”
necessária a “retomar a trajectória de aproximação interrom-
pida no passado recente”. Na verdade, não há sequer uma
trajectória de aproximação desse objectivo – o que permitiria
inferir que, mesmo que sem chegar lá, se estaria a percorrer
um caminho –, acentuando-se, pelo contrário, a divergência
com a palavra dada aquando da aprovação do Programa de
Governo. Com efeito, nem este Ministro nem a Ministra an-
15
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIAO. E. 2009
terior tiveram nenhuma capacidade de dotar o Ministério dos meios para uma política cultural consequente. Daí que só as rivalidades mesquinhas que fazem a cultura do poder autorizem Isabel Pires de Lima, ela também uma ministra falhada, a ironizar com o seu suces-sor a propósito do Orçamento: “a pouca verba que recebeu não deve afligí-lo. Prometeu fazer mais com menos, o Ministro das Finanças fez-lhe a vontade”.De facto, é bom lembrar que José António Pinto Ribeiro teve uma entrada de leão e tomou posse anunciando, com pompa e circuns-tância, que iria “fazer mais com menos”. Viriam as parcerias com as empresas, a vontade de “trazer o mercado aos agentes culturais, demonstrando o interesse e a rentabilidade do sector”, o estímulo do mecenato (anunciando-se, inclusivamente, a intenção de fazer uma nova lei sobre este assunto), a sensibilização dos agentes económicos e financeiros para a importância da actividade cultural. Era o mercado a salvar a cultura do desinvestimento público. O Ministro foi mesmo ao Parlamento apresentar-se, na Comissão, como um fundraiser (a expressão é sua...), alguém com uma enorme capacidade de negocia-ção, com conhecimento suficiente do mundo dos negócios para con-taminar os agentes do campo económico com a sua “paixão pela cul-tura” ou, mais prosaicamente, para transformar algumas actividades do campo cultural em fontes de capital simbólico de que empresas e investidores poderiam beneficiar, associando-se a elas, em troca de algum financiamento.Acontece que há aqui um enorme paradoxo. Como podemos acredi-tar que o Ministro possa ser um bom “angariador de fundos” para a cultura, uma pessoa capaz de entusiasmar investidores privados para parcerias na área do património ou da criação, se ele se revela incapaz de sensibilizar o próprio Conselho de Ministros de que faz parte para a importância do investimento nesta área? E que autoridade tem o Ministério para fazer o discurso da “rentabilidade” deste investimento se o próprio Governo de que é parte integrante desmente da forma
mais enfática possível, através deste Orçamento, essa convicção?A política cultural vem sofrendo dias difíceis e opções erradas. A re-forma da Administração Pública desagregou estruturas e, paradoxal-mente, acabou por, em alguns casos, burocratizar procedimentos e cadeias de decisão (é conhecido o exemplo do IGESPAR). Os museus confrontam-se, em muitos caos, com dificuldades financeiras que bloqueiam o seu funcionamento. O financiamento às artes continua a acentuar fortemente as assimetrias regionais, a não ser objecto de fiscalização, a afastar as novas estruturas, a gerar descontinuidades (o alargamento das “entidades beneficiárias” dos apoios estatais, de-fendido pelo Governo como uma mais-valia do seu novo regulamento, é obviamente uma manobra de diversão num contexto de redução drástica dos recursos). As redes de cine-teatros estão, quantas vezes, paralizadas em termos de programação. Os serviços educativos, Bi-bliotecas, a formação de públicos vão tendo dificuldades em respirar – quanto mais, portanto, em reforçar a sua acção. E o grande orgulho dos Governantes são as obras de fachada, os grandes eventos, a in-jecção de somas desproporcionadas em um ou dois acontecimentos mediáticos e de grande promoção: Berardo e o Hermitage são apenas os dois exemplos principais, as meninas dos olhos do Governo nos úl-timos tempos. A cultura asfixia, mas o Turismo brilha. O Ministério da Cultura, assim transformado numa espécie de Secretaria de Estado do Turismo, agradece: à falta de uma estratégia sustentada e aposta-da no longo prazo, à falta de recursos para apoiar a criação, promover a recuperação do património ou o acesso alargado ao bens culturais, lá vêm os grandes eventos render alguns minutos de fama.O actual Ministro é, portanto, a continuação desta política, a perpetua-ção das suas dificuldades e a incapacidade de afirmar um projecto sólido e de obter os meios para o levar adiante. Mais palavra azeda, menos palavra doce, a extinção do Ministério da Cultura continua, paulatinamente. Até ao Orçamento final.
José Soeiro é sociólogo e foi deputado na última sessão legislativa pelo Bloco de Esquerda, integrando a Comissão Parlamentar de Educação e Cultura.
16
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
Um dos aspectos mais salientes deste OE é a duplicação (atingindo um valor de 24 milhões de euros) do Fundo de Fomento Cultural. Sob esta designação encontra-se um dos mais importantes instru-mentos financeiros do Ministério da Cultura e esconde-se aquilo que é desde sempre considerado como o “saco azul” dos Ministros da Cultura. Formalmente, o Fundo de Fomento Cultural (FFC) é um fundo autónomo, criado ainda antes da revolução, em 1973, no âmbito da então Direcção-Geral dos Assuntos Culturais e alterado em 1980 e 1987. As verbas de que dispõe resultam de receitas próprias do MC e do “esforço nacional” do Orçamento de Estado, e a ampla lista das suas “várias” atribuições permite-lhe financiar legalmente o que quer que seja:
- Prestar apoio financeiro às actividades de promoção e difusão dos diversos ramos da cultura.- Subvencionar acções de defesa, conservação e valorização dos bens culturais.- Subsidiar a realização de congressos, conferências, reuniões, missões e outras iniciativas de natureza cultural, e bem assim, a participação em manifestações semelhantes que tenham lugar no estrangeiro.- Custear a divulgação, interna ou externa, dos programas e realizações culturais e artísticas.- Financiar estudos e investigações de carácter cultural.- Conceder subsídios e bolsas para outros fins de acção cultural.
O órgão máximo do FFC é o Conselho Administrativo, constituído pelo Secretário-Geral do Ministé-rio, que preside, pelos Directores do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológi-co (IGESPAR), da Direcção-Geral das Artes ( DGARTES), da Direcção-Geral do Livro e das Bibliote-cas (DGLB), do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) e por um representante do Ministério das Finanças.A gestão administrativa e financeira do FFC é assegurada pela Secretaria-Geral através de uma estrutura informal, e é gerido por simples despa-chos da tutela, que atribui as suas verbas como bem entende.A permanência de um Fundo deste tipo e dimensão num ministério com as limitações financeiras do MC é antes de mais uma confirmação da ausência de verdadeiras políticas culturais, bem pro-jectadas e baseadas no real conhecimento da realidade cultural nacional, e é ainda, em relação aos seus próprios institutos e direcções-gerais, um reconhecimento implícito da real falta de autono-mia e meios destes últimos e dos seus responsáveis. Estes têm assim de levar à tutela boa parte das decisões que querem tomar, atendendo à sua crónica sub-dotação, o que diminui certamente a eficácia do papel de condução política e coordenação que o Ministro ou Secretário de Estado deveriam ter, a favor de uma imersão destes nos problemas de dia a dias dos seus serviços . “De minimis non curat Praetor”, já diziam os romanos, que percebiam alguma coisa da gestão de con-juntos. O dinheiro a mais que encontramos agora no FFC é certamente aquele que desapareceu dos orçamentos do IGESPAR ou do Instituto dos Museus e Conservação, os recordistas de cortes orçamentais em 2009.
A presença de um fundo autónomo, de recurso para emergências (por exemplo aquisições de obras de arte de importância nacional, apoios casuais e de difícil previsão, estudos, etc) é tolerável e pode até constituir um elemento racional de gestão política e financeira, mas sempre e quando constitua um ponto residual no orçamento do MC. A duplicação do Fundo de Fomento Cultural no Orçamento de Estado de um ano eleitoral merece ainda uma outra leitura, que não pode ser escamoteada: é a constituição de um tesouro de guerra que permite alocar livremente fundos e tapar buracos, satis-fazer clientelas políticas e corresponder a reinvidicações mediaticamente presentes, garantindo a Pax cultural e disfarçando o eventual falhanço ou inexistência de políticas. Em suma, é a afirmação não de uma política cultural mas de uma cultura para a política.
FUNDO DE FOMENTO ELEITORAL?
17
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIAO. E. 2009
No OE são várias as referências a uma
articulação mais estreita com o sector
privado. Mas se aquilo que se pretende
são mais do que meras folhas de papel
que nunca passam das intenções e se
perdem no informalismo, então há muito
por explicar para podermos saber se este
novo modelo vem desempenhar um papel
positivo no sector.
UM NOVO
PARADIGMA NAS
De há muito que se vem ouvindo, em vários sectores, a
propósito e a despropósito, da necessidade de associar ope-
radores privados ao exercício das funções tradicionalmente
cometidas ao Estado.
Esta insistência na consagração de novos modelos relacio-
nais não vem, como seria de esperar, no sentido de apurar
uma reflexão sobre qual deve ser, afinal de contas, o papel
do Estado nas políticas do futuro mas, tão somente, no sen-
tido de encontrar mecanismos para, dentro do possível, e
sem perder o domínio e a autoridade, o Estado se tornar um
pouco mais racional e eficaz nas suas escolhas.
Esses novos modelos relacionais vêm sendo designados de
“parcerias”, termo que já entrou no nosso léxico político e
que tem servido para, de uma forma confusa, quase delibe-
rada, anunciar uma suposta mudança de paradigma do papel
do Estado.
O OE deste ano, para o sector da cultura, não escapa a esta
nova moda e, por várias vezes, de forma até insistente, refere
a opção governativa pela criação e desenvolvimento de par-
cerias com operadores privados.
De facto, o OE associa a promoção da eficácia cultural da
despesa programada ao aumento de parcerias ou de fun-
cionamento em rede com instituições privadas, assim como
insiste na necessidade de rever os apoios concedidos, segun-
do regras de transparência e avaliação, convertendo subsí-
dios a fundo perdido em contratos de prestação de serviço
público celebrados com os operadores privados.
Acontece, porém, que as referências à consagração, não
necessariamente generalizada mas seguramente não re-
sidual, de parcerias entre o Estado e entidades privadas
não vem acompanhada dos elementos necessários para, ao
certo, ficarmos a perceber o que são e ao que vêm estas par-
cerias.
E não me refiro apenas aos domínios, algo nebulosos, em
que o Governo parece admitir querer introduzir estas parce-
rias, mas igualmente, à concreta definição do modelo relacio-
nal com o operador privado, nomeadamente no que respeita
à repartição das responsabilidades inerentes à contratualiza-
ção em causa.
Ora, a definição desses aspectos é essencial para entender-
mos o que pretende efectivamente o Governo com estas par-
cerias. A não ser, claro está, que as parcerias de que se fala
no OE mais não sejam do velhos protocolos, sem qualquer
tipo de novidade ou capacidade de mudança, e não corres-
pondam afinal ao que actualmente, e com propriedade, se
vem entendendo que são parcerias contratuais com opera-
dores privados.
Na verdade, o termo “parceria” remete, em termos con-
tratuais, para uma forma de cooperação entre autoridades
públicas e operadores económicos privados, tendo por objec-
tivo assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a
gestão ou a manutenção de uma infra-estrutura ou a presta-
ção de um serviço público.
E, nesse prisma, faz algum sentido, sobretudo para aqueles
que, como eu, não vêem no Estado o sacrossanto papel de
faz-tudo cultural, que sejam ponderados novos modelos rela-
cionais através dos quais o Estado se associa aos operadores
privados para a prossecução das políticas culturais que, até
com a ajuda destes, vai definindo.
Mas se é disso que se fala no OE, se aquilo que se pretende
são mais do que meras folhas de papel que nunca passam
das intenções e se perdem no informalismo, então há muito
por explicar para podermos saber se este novo modelo vem
desempenhar um papel positivo no sector.
Aliás, nem aqueles que desconfiam da intervenção privada
nesta matéria podem estar devidamente assustados nem
aqueles que há muito pedem, como eu, que o Estado comece
a sair de cena podem estar satisfeitos com aquilo que vem
descrito no OE. Porque nada se sabe.
RELAÇÕES
ESTADO/PRIVADOS?
texto Adolfo Mesquita Nunes
18
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
No essencial, a ideia de parceria assenta numa “repartição de responsabilidades”, subjacente a um contrato por via do qual uma entidade privada se obriga, perante o Estado, a assegurar o desenvolvimento de uma actividade tendente à satisfação de uma necessidade colectiva.Por norma, nesse contrato, o financiamento e a respon-sabilidade pelo investimento e pela exploração incumbem, no todo ou em parte, à entidade privada, cabendo ao Estado o acompanhamento e o controlo da execução do projecto de parceria, de forma a garantir que são alcançados os fins de interesse público subjacentes.
E se assim é, e não se vê que assim não possa ser, não basta aventar a ideia de celebrar parcerias com privados para, de um assentada, esclarecer o que quer que seja. E é por isso que, perante o que vem descrito no OE, as perguntas não podem deixar de sair em catadupa.
Processos de selecção
Na verdade, qual o papel do Ministério, ou do Estado, no pro-cesso de definição, concepção, preparação, concurso, adju-dicação, alteração, fiscalização e acompanhamento global dessas parcerias?Seria importante que o Governo explicasse, ao certo e com rigor, de que parcerias fala, em que sector ou actividade, com que transferências de risco e responsabilidade. Como igualmente seria importante saber como serão esco-lhidos os parceiros privados, nomeadamente no que toca à concessão de apoios (antes atribuídos a fundo perdido) uma vez que aqui se não pode conceber que o Estado possa con-tratualizar com privados às margens das regras que acomo-dam a contratação estadual.
A este respeito, aliás, impor-se ia saber quais as regras aplicáveis à futura selecção do parceiro privado, qual a gre-lha de avaliação que lhe estará associada, de molde a per-mitir o controlo da imparcialidade ao longo de todo o proces-so, quais os comandos destinados a fazer cumprir o respeito do princípio da igualdade de tratamento ao longo de todo o processo e quais as garantias de objectividade subjacentes a esta selecção.
Igualmente, no sensível sector em que estamos, é de limi-nar bom senso perguntar, para conhecer, quais as limita-ções desenhadas para evitar que o Estado, a pretexto de contratualizações com privados, intervenha, ainda mais (e, a meu ver, muito mal e muito nefastamente) na produção cultural, orientando-a pouco democraticamente para onde entender mais conveniente.Por outro lado, não se conhecem, nem sequer foram apon-tadas, as vantagens das parcerias relativamente a outras formas de alcançar os mesmos fins, questão que não é de menor importância porquanto pode indiciar uma mudança, eventualmente urgente, de paradigma quanto ao papel do Estado no âmbito do sector.
E não se julgue, destas palavras, que existe da minha parte uma qualquer desconfiança relativamente à contratualiza-ção de uma parceria com um operador privado. Antes pelo contrário. O que me parece é que o êxito de qualquer parceria, e em consequência qualquer juízo que sobre a ideia de parce-ria possa fazer-se, depende, em larga medida, do carácter completo do enquadramento contratual do projecto, e da determinação optimizada dos elementos que regularão a sua aplicação.
Do meu ponto de vista, uma parceria com um operador privado deve ser precedida de uma adequada avaliação e de detalhado e profundo estudo que aconselhe a melhor repartição possível dos riscos e das responsabilidades en-tre os sectores público e privado, em função da respectiva capacidade para assumir tais riscos e responsabilidades. Como também me parece essencial a rigorosa definição e previsão dos mecanismos que permitam avaliar regular-mente o desempenho do operador privado e acompanhar as evoluções que ocorrem no decurso parceria. Neste sentido, sou da opinião que o princípio da transpar-ência exige que tais elementos sejam fornecidos ao sector, a fim de permitir efectivamente compreender o que está em causa e se o que está em causa pode aplaudido. Até lá, e salvo o devido respeito, estas parcerias de que fala o OE não são mais do que protocolos sem valor ou inovação de maior.
Atendendo a que na explanação das políticas para o sector da Cultura constantes do OE 2009 existe uma preocupação no conhecimento da realidade cultural na sua vertente económica - “demonstrar o interesse e rentabilidade do sector”, “realização do estudo sobre o valor económico da Língua Portuguesa, “diagnosticar o mercado” – cabe perguntar qual é nele o papel do Observatório das Ac-tividades Culturais, tanto mais que a sua histórica ligação ao ISCTE lhe permite certamente elaborar estudos que vão para além dos aspectos mais propriamente culturais e sociológicos.É verdade que quaisquer estudos deste tipo ou outro podem ser pedidos às várias universidades por-tuguesas mas importa saber o que pensa este Ministério de um seu organismo e o que pensa fazer dele. Numa altura em que corre a possível extinção do OAC, com o que isso significa de interrupção dos estudos em curso – como o que recentemente permitiu conhecer dados relativos à leitura – é a sua ausência no texto em questão a manifestação da intenção de não contar com ele ab initio e da sua extinção?
ONDE PÁRA O OBSERVATÓRIO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS?
O. E. 200919
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
A questão dos recursos financeiros colo-cados à disposição das actividades cul-turais e artísticas é de natureza política, muito mais do que económica. É uma questão que interroga as missões funda-mentais do Estado, o conceito de socie-dade que propomos ou, em última análise, o paradigma humano que perseguimos.
“O compromisso do Governo, em
matéria de financiamento público
da cultura, é claro: reafirmar o
sector como prioridade na afecta-
ção dos recursos disponíveis. Neste sentido, a meta de 1% do
Orçamento de Estado dedicada
à despesa cultural continua a
servir-nos de referência de médio
prazo, importando retomar a trajectória de aproximação inter-
rompida no passado recenteDo programa do actual governo, cultura
MAIS POR MENOS
Quando o Ministro da Cultura afirma que “Fernando Pes-soa vale mais do que a PT, enquanto produto de exportação” está a incorrer numa confusão que, mais do que conceptual, chega a ser ontológica. Quando afirma, no documento de en-quadramento do Orçamento para 2009, que dará prioridade à criação de “um instrumento de mercado, dirigido ao investi-mento nas indústrias criativas e culturais, sob a forma de um fundo de capital de risco”, está a deixar-se deslumbrar por uma linguagem e por um aparelho ideológico que, se pode de facto responder com alguma eficácia a um determinado conjunto de mercados (ligados necessariamente às práticas artísticas reprodutíveis e, portanto, passíveis de industria-lização e de consumo de massas), deixa irremediavelmente de fora o coração mesmo da actividade de um Ministério da Cultura.Há que saber distinguir, em primeiro lugar, entre a actividade artística nuclear e as indústrias culturais. O gesto artístico de base, cadinho sem o qual o restante edifício não se sus-tenta, caracteriza-se por uma economia de protótipo, não re-produtível, não massificável, na qual o custo de investimento não pode de nenhum modo ser “rentabilizado” através de uma “cadeia de valor”. Se isto é verdade para algumas for-mas de artes visuais, como a pintura ou a escultura, é-o muito mais para as artes colectivas como o teatro ou a dança. Estas práticas artísticas sofrem da chamada “doença de Baumol”, assim teorizada, já nos anos 60, por este economista da cul-tura: em 1664, precisávamos de duas horas e doze actores para representar o Tartufo; em 2008, continuamos a precisar de duas horas e doze actores. Não há ganhos tecnológicos ou novos procedimentos que evitem este “impasse” produtivo. Ora, a criação artística colectiva implica, mesmo assim, um forte investimento em capital humano, implica formas de or-ganização complexas que, na sociedade em que vivemos, não podem estar dissociadas de custos importantes. E mesmo no que se refere a práticas artísticas mais industrializáveis, apenas a criação mainstream pode almejar à rentabilidade. O que, por um lado, exclui desde logo as práticas experi-mentais e que visam um conjunto de fruidores que não será necessariamente tão numeroso que permita economias de escala. Muito mais, neste mundo globalizado em que vive-mos, se nos reportarmos a um país pequeno com uma língua minoritária.A pergunta que devemos colocar a nós próprios desloca-se, então, para outro território, o da política. Devemos, enquan-to comunidade organizada, sustentar os custos da criação artística? Em caso afirmativo, porquê? O que equivale a per-
guntarmo-nos a que modelo de sociedade e de cidadão nos reportamos. Desejamos ser um mero conjunto de animais humanos, portadores das mesmas referências, pragmatiza-dos em função de simples resultados económicos e funcion-ais, tendentes ao consenso abúlico perante questões existen-ciais? Ou, pelo contrário, compreendemos o sentido crítico, a capacidade de elaboração, de invenção de novas formas, como algo de desejável? Queremos cidadãos independentes, trabalhadores com sentido de autonomia, ou meros deposi-tários da decisão hierárquica e da propaganda do poder? Trinta e quatro anos depois da nossa transição democrática, parece ser ainda difícil responder a uma questão tão simples. A mera confusão ente entretenimento e fruição artística (hoje tão comum que leva mesmo a Ministra cessante a defender, sem se rir, um Ministério da Cultura e do Turismo) deriva desta indecisão matricial. O poder esqueceu (ou já não quer saber) que a leitura poética do mundo ou a sátira são elemen-tos de inquietação, às vezes de ruptura, muito poucas vezes de coesão. Que a sua justificação última, mesmo de um ponto de vista cínico, poderá ser o facto de, no fundo, protegerem quem exerce o poder contra as suas piores derivas, permitin-do-lhes uma imagem crua do seu próprio excesso.
O direito à criação e fruição artísticas
O acesso à criação e à fruição artísticas, direito garantido em abstracto pelo art. 78º da nossa Constituição, contribui, de uma maneira que mercado algum sabe sequer avaliar, para a qualificação das pessoas e para a sua capacidade de interven-ção cidadã. O que, em última análise, justifica o investimento na criação artística, sem paninhos quentes, como um investi-mento nos cidadãos. Um investimento imperativo, de acordo com o sistema político-constitucional que (ainda) nos rege. Um investimento que, ainda por cima, é geometricamente cumulativo: Roger McCain chama “gosto”, no contexto da economia da cultura, a um “activo económico específico que provém tanto da formação específica para apreciar os bens culturais, como da quantidade de bens do mesmo tipo con-sumidos anteriormente”. O que, a um tempo, deita por terra o argumento populista de que deve dar-se ao povo aquilo de que o povo gosta e aproveita ainda para recolocar no sítio próprio a tal questão da “rentabilidade” do investimento.O problema, aparentemente, estará em saber como concre-tizar esse tal direito à criação e à fruição que a Constituição nos garante. Ultimamente, parece pensar-se que a eficácia nessa concretização poderá ser garantida através da apli-
texto José Luís Ferreira
22
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
cação ao domínio cultural das regras dessa coisa inefável a que
hoje se chama “gestão”. Que essa eficácia pode ser mensurável
através de qualquer coisa palpável a que não resistiríamos a
chamar “indicadores”. Assim se inventou a empresarialização das
estruturas públicas de criação, com a correspondente imputação
de modelos de gestão e de accountability que provêm da ideologia
dos mercados (não integrando sequer a recentíssima ideia de que
estes implodiram por força das suas regras internas).
Mito dos tempos modernos, a “gestão” seria pouco mais ou me-
nos uma ciência abstracta com virtualidades mágicas, capaz de
pôr finalmente os artistas nos eixos e revesti-los da seriedade
que a coisa económica exige. Por isso se nomeiam, neste peque-
no país confuso, banqueiros para cargos de topo na administra-
ção de processos culturais. Por isso se promovem as miríficas
parcerias público-privadas em que o estado investe e os privados
gerem. Por isso as EPEs do Ministério da Cultura se aparelham
de Conselhos de Administração ao lado (ou acima) da respectiva
Direcção Artística. Assim se compromete a lógica própria de uma
actividade simples, que não tem outra ciência senão a criação se-
gundo as suas regras próprias e a sua mediação com públicos
progressivamente mais alargados e penetrando mais fundo no
todo social, por um lado, e a boa administração de um orçamento
que se desejaria suficiente e gerido com probidade, por outro.
Assim se compromete, portanto, a “rentabilidade” específica de
um processo, em nome de uma outra rentabilidade que é inal-
cançável.
Uma questão política e económica
Neste contexto, não é de admirar que os orçamentos do Minis-
tério da Cultura desçam todos os anos até à patética fracção de
0,4% do Orçamento Geral do Estado na qual se encontram pre-
sentemente. Não se sabendo para o que serve nem se confiando
na dupla capacidade dos profissionais e das entidades públicas
para garantir a tal probidade, não se percebendo que não se
trata de um custo, mas sim de um investimento, é natural que
os Ministros das Finanças deste mundo procurem poupar aqui
uns tostões. Por falta de visão política ou pela afirmação de uma
visão política que, se fosse declarada às claras, seria conside-
rada inaceitável. Mas também por incompetência técnica, pela
incapacidade dos gestores políticos sectoriais de compreender o
fenómeno e tratá-lo na sua devida dimensão.
Fechando o círculo, repito que a questão da cultura é política e
não económica, e muito menos financeira. O orçamento do MC
para o próximo ano corresponde a um vigésimo do que o primeiro-
ministro anunciou, em 2004, que cortaria à despesa pública até
ao final da legislatura. Um vigésimo da “gordura” orçamental! Se
tivesse cumprido o seu programa de governo (pausa para gar-
galhadas), triplicá-lo-ia e, mesmo assim, chegaria apenas a um
sexto vírgula seis do problema. O que, para a gestão dos dinheiros
do Estado são amendoins. Que bem distribuídos a estes macacos
que somos todos nós, garantiria o começo de qualquer coisa que
nos transformaria finalmente num país mais aceitável.
Enfim, multiplicar mais por menos dá, aritmeticamente, qualquer
coisa de negativo. Como sabe qualquer miúdo da quarta classe.
José Luís Ferreira é responsável pelas Relações Internacionais
do Teatro Nacional de S. João (TNSJ) e delegado executivo da
União de Teatros da Europa (UTE)
O Economês da Cultura
Uma das surpresas do relatório do Orçamento de Es-
tado 2009, no que diz respeito ao Ministério da Cultura, é
a aparição de todo um vocabulário próprio da Economia
e da Gestão pouco habitual nos documentos referentes à
cultura, podendo presumir-se que este representa nele o
cunho pessoal do actual Ministro, de resto coincidente com
muitas das suas declarações públicas.
Começando por referir as Indústrias Criativas e Culturais
como um dos eixos prioritários da acção do MC, vai dizendo
que “no plano orçamental, o objectivo é promover a eficá-
cia cultural da despesa programada através do rigor na
gestão”, acresecentando a este um outro objectivo, o de
“estimular a dinâmica da economia da cultura e trazer o
mercado aos agentes culturais, demonstrando o interesse
e rentabilidade do sector”.
Se na área da Língua o relatório se contenta com a refe-
rência a um “Fundo” e a Realização do Estudo sobre o
Valor Económico da Língua Portuguesa, na do Património
aponta-se o pioneirismo do “lançamento de uma parceria
entre o MC e o sector privado para um programa de re-
cuperação do património classificado em risco” e fala-se
em “modelos inovadores de gestão do património edificado
que permitam a sustentabilidade dos equipamentos cul-
turais”, na “operacionalização da estrutura de gestão do
evento “Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012”, e na
“relação custo-benefício” no que toca ao Depósito Legal.
Mas é no capítulo Artes e Indústrias Criativas e Culturais
que se assiste a uma verdadeira aceleração, para não dizer
derrapagem: é apontado como prioritário o” lançamento
de um instrumento de mercado, dirigido ao investimento
nas indústrias criativas e culturais e nas suas estruturas
de apoio, sob a forma de fundo de capital de risco”, a que
se seguem referências a uma “cadeia de valor do sector”,
à “consolidação do valor económico”, e à“competitividade
das indústrias”.
Voltando a referir adiante o “fundo de investimento espe-
cífico para financiamento de projectos e empresas”, se-
guem-se outros objectivos como “diagnosticar o mercado
(aprofundando estudos macroeconómicos e estatísticos do
sector; tornando compreensível o seu modelo de negócio
e processo de criação de valor)”, criar uma “plataforma
de funcionamento em rede com empresas e organismos
públicos” e ainda “formar clusters”.
A fechar, e depois de mais alguma“contratualização” e
“maximização” nas artes e cinema, temos a referência
aos contratos-programa com as três entidades públicas
empresariais do sector cultural, os Teatros Nacionais D.
Maria II e S. João, e a OPART (cujas “indemnizações com-
pensatórias” no valor 29,4 milhões de euros, a título de
precisão, não se encontram no orçamento do MC mas sim
no do Ministério das Finanças).
O. E. 200923
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
Há uma contradição entre o discurso
consensual sobre a dimensão Humana
do Património Cultural e a natureza
nacional, ou de âmbito ainda mais restrito,
das fontes de financiamento necessárias à
sua gestão. As GOP para 2009 apenas
confirmam uma tendência de há anos
a esta parte.
texto Luiz Oosterbeek
Património Cultural
MAIS UM POUCO DO MESMOO Património Cultural não é uma necessidade vital e sim, ele próprio, uma construção cultural, que só é sentida por quem a ela se habitua. Ora o Património Cultural é, apenas, a expressão material duradoura de uma teia de relações e processos de comunicação entre os seres humanos, de natureza imaterial e, por isso, perdida para sempre. Sem uma articulação permanente com a rede global de relações entre as pessoas (que são a cultura, ou seja, o comportamento extra-somático dessas pessoas), o Património (a memória das relações passadas) não tem nenhuma utilidade social. Se a gestão do património cultural for restringida a um gueto (por exemplo um Ministério da Cultura) sem uma articulação dinâmica e permanente com o conjunto dos processos de interacção social-cultural (educação, economia, justiça, …), a percepção da importância ou do valor desse Património será diminuída e, numa sociedade democrática, isso conduzirá ao desin-vestimento. Esta é, creio, a raiz de uma degradação progressiva das políticas de património cultural, pontuadas por happenings (como a decisão de salvar o património da Humanidade em Foz Côa) mas sem con-tinuidade programática e estratégica, e que encontram nas actuais Grandes Opções do Plano para 2009 mais um exemplo, só na aparên-cia qualitativamente distinto dos anteriores.O que agora se passa era fácil de prever, e na verdade é a reflexão sobre esta realidade que tem levado muitos profissionais da área a defender a reorganização e simplificação administrativas, o que nada tem em comum com a demissão face às responsabilidades essências do Estado que, essas, estão longe de serem assumidas (agora ou an-tes). Como exemplo, podemos mencionar o facto de Lisboa ser a única capital europeia que não tem uma exposição permanente da arqueo-logia do seu território. Como pode haver “valorização do património” se ele está escondido e não se escreve uma linha sobre a forma de o estudar e tornar conceptualmente acessível (o que não se consegue apenas com cosméticas museográficas, e exige rigor nas esferas da investigação e do ensino, sobretudo deste)? As políticas de património têm-se confundido com a discussão sobre as instituições que o gerem, num assinalável equívoco. Ocorre que a sociedade mudou, e o Estado central já não é o principal garante financeiro (embora o deva ser no plano da regulação e fiscalização) do património cultural. As verbas de investimento deveriam por isso ser canalizadas para a construção de redes de parcerias em que o Estado deveria agir apenas em casos supletivos, apoiando as autarquias e privados.
O papel do Estado
Há uma contradição entre o discurso consensual sobre a dimensão Humana do Património Cultural e a natureza nacional, ou de âmbito ainda mais restrito, das fontes de financiamento necessárias à sua gestão. A palavra Património remete, directamente, para a noção de posse, de propriedade, e a gestão do Património Cultural tem-se feito muito seguindo estratégias de definição de níveis diferenciados da propriedade: pública (reservada a alguns monumentos e sítios), privada com restrições (sítios classificados e, em menor grau, os bens difusos) e privada sem restrições (a esmagadora maioria do património cultural). Ora, as balizas da responsabilidade estatal são claras, embora com-plexas: o Estado (nacional) deve regular a gestão do património que é da Humanidade (em termos conceptuais) e de privados (na sua maioria). Face a esta realidade, há muitos anos que o Estado se demitiu de uma função globalmente reguladora (as hesitações e incapacidade em regular a Lei de Bases são disso expressão) e tem-se refugiado na gestão (umas vezes eficiente, muitas vezes incoerente) de um punha-do de sítios e monumentos (designados por “imóveis afectos”), a que se juntam, aqui e ali, alguns outros discricionariamente escolhidos por uma tutela que não tem competências, nem deve ter, na definição do seu valor relativo.Decorreria desta análise, que me parece consensual, uma estraté-gia que reservaria para o Estado as funções de regulador e de fis-calizador, deixando para projectos (de parceria) os investimentos de dinheiros públicos nas esferas do estudo (palavra sempre ausente das GOP), conservação, valorização e comunicação/difusão dos bens culturais (por esta ordem). Ciclicamente os governos anunciam esta estratégia, e este ano não é muito diferente, mas na prática nunca o fazem. As funções de regulação e fiscalização não conferem protago-nismo mediático, e não serão animadoras para aparelhos que vivem em circuito fechado, honestamente convencidos de que são bastiões de resistência (e de que mais vale “salvar” três ou quatro coisas pe-los seus próprios meios, do que “entregar” à sociedade de bárbaros os recursos públicos), e que não percebem que o mundo mudou, e Portugal também: hoje, são as autarquias e os privados que mais in-vestem e cuidam do Património em Portugal (ou seja, do território todo, e não apenas de alguns bens “afectos”).Há vários anos que penso que esta prática dos sucessivos ministé-rios, que sempre foi causando atritos com autarquias, proprietários,
24
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
investigadores, etc., levaria a decrescentes investimentos. É uma re-
alidade não apenas Portuguesa, mas que entre nós se manifesta de
forma mais brutal. Na ausência de uma capacidade dos responsáveis
da gestão dos bens culturais em conquistar aliados para projectos
em que efectivamente partilhem o poder (e não apenas os custos),
os diferentes sectores da sociedade ir-se-iam alheando da tutela, e
corroendo a sua viabilidade financeira. A por vezes má gestão, iso-
lacionista e sectária, de alguns dos ditos “imóveis afectos”, agravou
a falta de apoio social para os reforços orçamentais em matéria de
património cultural. E é isso que explica que, num quadro global de
desinvestimento em cultura, as verbas para o património sejam mais
afectadas que as que se destinam às artes (que concitam o envolvi-
mento de públicos em processos interactivos, que são os espectáculos).
Na verdade, o Património não é algo inocente. Ele intervém como ele-
mento aglutinador dos grupos sociais, e é na valorização da dinâmica
desses grupos que se pode encontrar os necessários apoios à sua
gestão integrada. Fora desta dimensão, ele reduz-se a muito pouco,
sobretudo quando serve, como muitas vezes tem servido, para cimen-
tar distâncias sociais de elites paroquiais. O facto de os Ministérios
da Cultura, criados na segunda metade do século passado para cui-
dar sobretudo do Património, serem hoje absorvidos sobretudo pelas
artes, é a demonstração da falência das políticas de gestão patrimonial.
Opções, apenas, bem intencionadas
A sociedade é sempre mais forte do que as políticas conjunturais, e
mesmo do que as instituições (sobretudo num país como Portugal) e
estratégias de intervenção cultural que se inscrevam numa dinâmica
para “mudar o Mundo”, como escreveu Rimbaud, serão sempre mais
fortes do que poderes de ocasião. Por outro lado, o paradigma global
da nossa sociedade no início do terceiro milénio é o da qualidade, que
só se assegura através de estruturas de partenariado (de poderes) e
da globalização (sem proteccionismos). Deveria ser esse o caminho do
Estado (que às vezes o tenta, para logo se arrepender) e é essa a es-
tratégia que o Museu de Arte Pré-Histórica de Mação, com o Instituto
Politécnico de Tomar, prossegue. O objectivo central do Museu não se
limita à conservação dos bens que lhe são “afectos”, mas antes o de
contribuir para uma melhoria global da sociedade, para uma pedago-
gia da diferença cultural e para um crescimento global da economia.
Para isso, o Museu começou por elaborar um programa (em 2001)
que foi discutido internacionalmente (para assegurar o controle da
sua qualidade) e é escrutinado por entidades externas todos os anos.
Conquistou primeiro o apoio da população local, com a qual discutiu
uma estratégia de museu global, espaço de encontro de culturas e de
debate. Nessa base, tem merecido apoios da Comissão Europeia, da
UNESCO e, mais tarde, também do Ministério da Cultura. Tem, hoje,
um modelo de gestão em que intervêm empresas privadas, e irá em
breve formalizar um conselho empresarial.
As Grandes Opções do Plano para 2009 são bem intencionadas, mas
apresentam-se como o contrário desta dinâmica já que definem um
quadro programático claro e o instrumento para o atingir: trata-se
de centrar a gestão da cultura (que é o que o Estado pode fazer) na
sua “valorização”, recorrendo ao estabelecimento de parcerias, “in-
clusive público-privadas”. Esta opção é coerente com o que tem vindo
a ser a evolução das políticas de património há vários anos: a noção
de que se pode agregar valor a partir de uma base meramente mate-
rial (o “património”), marcada por sítios isolados (em número limi-
tado e geridos essencialmente pelo próprio Ministério da Cultura) e
sem cuidar de uma malha integrada de todo o território. Ora o valor
do património é indissociável da sua apropriação social difusa (que é
o que as GOP, agora como antes, não consideram), e por isso a sua
valorização reduzida a cosméticas museográficas é, essencialmente,
um gasto e não um investimento. E é na óptica de ”partilhar o gasto”
que se fala de parcerias com privados, pois de outra forma haveria
também uma secção, inexistente, de partilha de poder sobre esse
património. Ora os privados ou financiarão a fundo perdido (pela lógi-
ca do Mecenato, o que não é uma verdadeira partilha) ou financiarão o
seu património (mas isso não é mencionado nas GOP).
Este quadro de referência, claro mas débil, prolonga-se nas magras
tentativas de concretização das opções. Para além das referências
aos projectos em curso, sem uma palavra sobre os investimentos es-
truturantes dos sectores municipal e empresarial, a única referência
é à anunciada regulamentação da Lei de Bases. Significativamente,
é sob o tema da difusão cultural que surgem a digitalização de con-
teúdos e recursos culturais ou a rede de arquivos (que se considera
quase concluída!), mais uma vez sem articular os instrumentos de
digitalização com uma estratégia de conservação patrimonial, entre
outros, dos próprios arquivos. Refere-se ainda os sites dos museus e
a digitalização e acessibilidade dos seus inventários, além da consul-
toria técnica, mas tudo sempre numa óptica de “difusão”, de comuni-
cação, que certamente é essencial mas surge desligada do resto que
deve estruturar uma política integrada de gestão patrimonial.
Vida para além das GOP
Infeliz é, também, e mais uma vez sem novidade perante uma tradição
monótona e marginal, o anúncio de uma política cultural externa limi-
tada à língua, ignorando as competências endógenas para a expor-
tação de know-how, as parcerias internacionais, etc. Uma política
cultural baseada apenas na língua é sempre meritória, mas não dife-
rencia Portugal no quadro da lusofonia, face ao Brasil em particular.
Mas sobre a difusão da cultura portuguesa, o foco é sempre a língua
e duas coisas vagas: “marcas culturais” e generalização do acesso
à cultura. Na questão das marcas articula-se património, artes e
turismo, mas o património reduz-se a alguns sítios de projectos do
Igespar, para apoio a esse desiderato. E quando se fala de circulação
do património cultural móvel inclui-se nele “artes, cinema e acervos
museológicos”, o que é no mínimo curioso.
Apesar destas notas negativas, confesso que encaro o quadro geral
com optimismo. Há pessoas bem intencionadas e competentes nos
diversos organismos, e a gestão do Património Cultural será cada vez
mais assumida fora do quadro do Estado. Estamos hoje, sem dúvida,
melhor do que há dez anos, apesar dos desinvestimentos. Há vida
para além das GOP, e estamos num espaço Europeu que ajudará os
projectos fortes e inscritos no território.
Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Tomar, Director do Museu de Arte Pré-
-Histórica de Mação, e membro do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas
(UNESCO)
O. E. 200925
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
Uma leitura mais atenta dos quadros incluídos nas Grandes Opções do Plano (GOP) evidencia que, no orçamento previsto para 2009, veri-ficamos que na sua maioria as intenções não têm sequer viabilidade financeira visto o maior peso de despesas previstas estar associado aos gastos com o pessoal e com as aquisições de bens destinados à requalificação e recuperação do património arquitectónico, histórico, artístico e cultural. Colocam-se, portanto, as seguintes questões: Como favorece esta instituição o envolvimento de cada vez mais pessoas nas diferentes áreas e dimensões das práticas culturais? De que modo este órgão do estado impulsiona os dispositivos de cooperação entre as áreas da educação, do ensino superior, da ciência, da inovação, do turismo, do trabalho e da cultura? Quais são as oportunidades que este sec-tor oferece às escolas e à comunidade visando a área da educação artística? Num momento em que os estudos apontam ainda para um baixo índice de consumo de bens culturais, é preciso repensar a vida cultu-ral do país e integrar a arte e a cultura no quotidiano das comuni-dades, tornando-a uma componente fundamental para a sociedade.Porque uma das competências do Estado é a concepção de modelos de sustentabilidade e de qualificação deste eixo, elaborando um plano estratégico, dotado de mecanismos de apoio ajustados ao desenvol-vimento de uma educação artística de qualidade através do incre-mento de um programa transversal a todos os Ministérios, visando as vertentes da sensibilização, do convívio e do contacto com as artes – mais abrangente do que o simples complemento pedagógico aos programas curriculares – e encarando esta função como um encargo natural, a par da Defesa, da Saúde ou do Trabalho. Porque há muito se invoca a indispensabilidade de envolver os artistas da comunidade e as instituições culturais no processo educativo, criando vínculos entre as escolas e estes actores, qualificando as práticas educativas e pro-movendo o conceito da missão da escola como instituição cultural. Mas, afinal, como está este aspecto contemplado no plano de acção do Ministério da Cultura? Por acaso este Ministério já procurou articular com o Ministério da Educação no sentido de negociar os modelos de inclusão de artistas nas escolas? Será que já foi pensada a definição de perfis para novos agentes educativos? E, já agora, de que modo tem defendido a participação dos artistas nos programas de formação inicial e contínua de professores?Não é suficiente realizar propostas de intenções quando não há uma verdadeira política cultural, realista e transparente, dotada de recur-sos humanos e financeiros.
Por isso, não basta afirmar que se pretende qualificar os serviços educativos dos equipamentos culturais quando não existe uma estra-tégia de divulgação e de comunicação, quando não há acesso gratuito – ou simbólico – para as crianças e para os jovens, nem quando ainda é assimétrica – em termos geográficos e em termos de qualidade – a oferta de programas educativos. É preciso investir em acções de mediação cultural e na regular cola-boração entre o sistema cultural e o sistema educativo, dado que es-tas são as ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento pes-soal e social, para a captação de novos públicos e para a consolidação de uma cidadania mais sólida e interventiva. Nesse sentido, o aprofundamento da cooperação institucional nos domínios da educação, das artes e da cultura é uma exigência que, certamente, contribuirá, a médio e a longo prazo, para os níveis de qualificação dos portugueses e que deve ser o cerne das prioridades do Estado. Assim, e num momento em que o Ministério da Cultura tanto invoca o valor das parcerias, é preciso realizar um trabalho neste domínio, definindo, de forma clara e precisa, os direitos e os deveres dos par-ceiros, para que não existam “arestas” que impeçam o bom funcio-namento destes dispositivos, como já aconteceu com o Programa de Promoção de Projectos Educativos na área da Cultura (Despacho Conjunto nº 834/2005, de 05/11/04, dos Ministério da Educação e da Cultura), o qual falhou, entre outras razões, por não terem sido esta-belecidas, à partida, as responsabilidades de cada uma das partes, designadamente a nível financeiro. Portanto, muito mais do que uma declaração de “boas intenções”, e ao invés da fragmentação e proliferação de projectos e acções avulsas incapazes de actuar sobre a sociedade portuguesa e de responder às reais necessidades da modernidade, o actual desafio do Estado para a cultura é a concepção de modelos de sustentabilidade das políticas culturais, coerentes e consistentes, que concorram para a mudança da realidade nacional e assegurem a viabilização de todos os eixos consignados no programa do governo.
Cristina Leonardo é Mestre em Estudos de Teatro pela Faculdade de Letras da Universi-dade de Lisboa. Tem desenvolvido actividade de investigação nas seguintes áreas: Teatro e Expressão Dramática; Educação Cultural; Lusofonia; Literatura Comparada; Criatividade e Inovação. Tem desempenhado diferentes funções no domínio da Educação na qualidade de formadora e de consultora. Autora de diversas comunicações em conferências e em congressos nacionais e internacionais e de artigos em livros de actas e artigos em revistas nacionais e internacionais.
Quando a Língua é uma das prioridades para 2009 continua por se efectivar uma
real articulação entre o Ministério da Cultura e o da Educação.
Educação Artística e Ensino Artístico
PARA QUANDO UMA PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO?
texto Cristina Leonardo
O. E. 200927
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
1. Ministério da CulturaO apoio ao Cinema e ao Audiovisual, que até há dois anos estava concentrado no Instituto do Cinema e Audivisual (ICA) deixou de o estar com a criação de uma entidade paralela, o Fundo de Inves-timento para o Cinema e Audivisual, dotada de um financiamento muito importante (com mais de 50% provenientes do Estado). Se o funcionamento do Instituto de Cinema - ao longo do tempo foi mudando de designação: ICA-ICAM-IPACA-IPC -, sempre deixou muito a desejar (por falta de uma liderança com saber digerido, projectos para a área, e carisma), pelo menos a gestão medíocre não relevava do escândalo instituído. Com a criação da segunda entidade, o FICA, um falso fundo de financiamento privado, com uma falsa lógica de funcionamento bancária (o Fundo é gerido pelo BES), a situação de correcção deteriorou-se gravemente. Segundo a apresentação pública feita pela ex-ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, e pelo actual Ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos Silva, a lógica do fundo seria a de promover o tecido industrial e deveria funcionar em moldes totalmente diferentes do ICA, que teorica-mente se dedica à “arte cinematográfica”. Ora, os dois ministros, tal como a maior parte das pessoas que escreveram os textos, deveriam saber que não há indústria pos-sível no cinema e no audiovisual português. As únicas actividades que correspondem aproximadamente a este princípio “industrial” são a produção de publicidade e a produção de séries televisivas. Todo o resto releva da arte ou do artesanato de pequena escala e, neste momento, à beira da extinção. O que se assiste desde que o FICA começou a atribuir apoios com previsão de retorno financeiro é a uma lógica de burla da própria entidade na apresentação de todos os projectos, com hipócrita aprovação por parte dessa mesma entidade. Desde quando as produções para a televisão portuguesa, por exemplo - que deve-riam receber 50% dos apoios a projectos apresentados ao FICA -, tem alguma possibilidade de restituir os financiamentos? O FICA é evidentemente uma farsa, um projecto concebido por idiotas ou por pessoas desonestas. Não é o cinema português que beneficia de uma lógica de escandalosa mentira, nem são os audiovisuais. A imediata reformulação do FICA, que gere fundos enormes, deveria ser uma prioridade do Governo para a área do Cinema, tal como a criação de uma política inteligente de desenvolvimento para o sector que, bem ditas as coisas, nunca existiu. Encontrar soluções concertadas para reconciliar o cinema nacio-nal com o público (outra prioridade que não está escrita no pro-grama de Estado) passa naturalmente por uma política de investi-mento na qualidade cinematográfica e por um entendimento entre as entidades que tutelam a produção de cinema, as televisões e o Ministério da Educação.
CINEMA E
texto Sérgio Treffaut
2. Ministério dos Assuntos ParlamentaresIronicamente, depende do Ministério dos Assuntos Parlamen-tares (ou seja indirectamente do Primeiro Ministro) a tutela da televisão Pública e a regulação das televisões privadas. Ora é um facto que os dois canais públicos da televisão portuguesa (RTP 1 e RTP 2) têm uma política de produção e exibição de cinema (ficção e documentários) claramente desfasada da realidade eu-ropeia.Ao contrário do que acontece na maioria dos países europeus, onde as televisões representam o principal motor do financia-mento da ficção cinematográfica e do documentário, em Portugal a participação financeira dos canais públicos na produção nacio-nal é insignificante. A esta falta de participação financeira cor-responde uma ausência de janelas de exibição (tanto de filmes portugueses como internacionais) e a não promoção de uma cul-tura cinematográfica. Por outro lado, os canais privados (TVI e SIC) porque não são, como em outros países europeus, devidamente regulados pelo Estado competem numa produção crescente de entretenimento populista e tele-lixo. A televisão pública imita-os sem grande pu-dor. Toda esta situação é extremamente grave para a saúde men-tal dos portugueses, mas nada disso faz parte do programa ou da previsão de orçamento do governo. Ou seja: o governo aprova e está satisfeito com o funcionamento lamentável das televisões.
3. Ministério da EducaçãoPassa por este Ministério a administração e supervisão do ensino do cinema e audiovisuais. Apesar da existência, há várias déca-das, de uma Escola de Cinema de Estado e de dezenas de cur-sos apoiados pelo Governo, os alunos que saem de todas essas escolas são visivelmente mal formados. As escolas portuguesas de cinema não servem de referência para nenhum estudante do resto do mundo. E não é por Portugal ser um país pequeno. Há países pequenos com grandes escolas : Dinamarca, República Checa, Bélgica, etc. Se se pretende que Portugal venha a ter um Cinema de referência é preciso também reformular esta área do ensino, não apenas no ensino superior, mas possivelmente desde o ensino básico e secundário.
Sérgio Treffaut é realizador de cinema e dirige o DocLisboa.
O programa do actual Governo para o cinema e para os audiovisuais é inexistente. Neste campo, o Governo é como um médico incapaz de diagnosticar e propor tratamentos para as patologias de um corpo cuja doença passa por três ministérios distintos: o da Cultura, o dos Assuntos Parlamentares e o da Educação. O futuro do cinema e dos audiovisuais em Portugal (ou a tentativa de melhoramento para as actuais doenças) está claramente dependente de uma plataforma entre estes ministérios ou de uma saudável reformulação da distribuição de competências.
AUDIOVISUAIS
28
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
Que significado podem adquirir as prioridades definidas pelo Ministério da Cultura num contexto económico imprevisível como aquele que estamos a atravessar? E que identidade nacional se está a construir com base na língua, no património e nas indústrias criativas? São muitas as dúvidas lançadas pelas Grandes Opções do Plano para 2009.
POLÍTICA CULTURAL PORTUGUESANA ERA DA GLOBALIZAÇÃO
Nos três eixos prioritários da acção do Ministério da Cultura (MC) são identificados a Língua, o Património e as Artes e as Industrias Criativas e Culturais. Embora me pudesse pro-nunciar longamente sobre cada um deles direi apenas: que a Língua é para o Ministério essencial para a afirmação da identidade portuguesa mas duvido que o argumento mais forte das “novas geografias cosmopolitas” seja o idioma que falamos. Pelo contrário, a afirmação de uma “nova” cultura identitária para um território e a sua projecção “além fron-teiras” passa mais pela afirmação de um projecto transcul-tural (e, portanto, “mestiço”) do que pela perpetuação de uma língua como elo de união dos habitantes que povoam (povoaram) esse território. Este teor (rectro)activo apresen-tado como argumento para definir uma “identidade” nacional carece hoje de fundamento face ao avanço da globalização e à perda de energia do conceito internacionalista utilizado ainda pelas teorias pós-coloniais dos anos oitenta que, para-doxalmente, serviram as grandes dicotomias ideológicas (o marxismo e o capitalismo tardio). Falar-português ou tentar que mais pessoas em todo o mundo sejam falantes-de-português não é exactamente a mesma coisa! Com a quebra das fronteiras e questionado o estado-nação, o sistema que pode definir uma política cul-tural contemporânea pró-activa e, portanto de sucesso, e assente no “espírito-do-tempo”, só pode ser aquela que in-corpore mecanismos de comunicação globais capazes de se afirmarem através da (sua) pertinência internacional. É certo que o espírito modernista ignorou a tradição e que a euforia pós-moderna fez dela o deleite de muitos pensadores e cria-dores; mas passado o momento do colorido período no final do século vinte, a realidade conduz-nos a uma consciencia-
texto Luís Serpa
lização de que a história serve para progredirmos e não para celebrarmos melancolicamente momentos em que fomos líderes de opinião ou em que conseguimos difundir um ideário nacional baseado numa iconografia celebratória de feitos conseguidos por aventureiros de ética duvidosa, caucionados por governantes que legitimavam a pirataria que grassava nos mares a qual incentivavam com meios dissimulados e muito pouco transparentes. “Promover a eficácia cultural” (sic) passa mais por um pla-no estratégico concertado, pertinente e internacionalmente atractivo para quem consome produtos culturais de origem portuguesa (e não portugueses, uma falácia secular que tem perdurado no léxico da promoção turística do país), do que pelo controlo das despesas correntes. Fica bem afirmá-lo mas sabemos que é um elemento de retórica utilizado pelos políticos que só a eles convence pois o discurso racionalista aristotélico está cheio de premissas falsas que Zenão soube aproveitar para os “discursos dos tribunos” e, portanto da dialética-do-convencimento; mas que dificilmente será uti-lizado por aqueles outros que preferem a dialética hegele-niana e, portanto, do prazer da discussão enquanto modelo puramente argumentativo e especulativo.
Elementos de identificação
Por outro lado, aquilo que hoje pode, então, constituir-se como elemento aglutinador dos habitantes desse território (a que por comodidade de linguagem ainda chamamos Por-tugal) é a percepção do espaço construído em que habita-mos, que nos rodeia e que praticamos. E, nesse sentido, o Património (utilizado quiçá num sentido mais amplo do
32
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
que aquele que consta no documento utilizado pelo Go-verno), é um espaço cuja percepção se torna fundamental para despertar o “espírito-do-lugar” permitindo, assim, identificarmo-nos com ele: usufruindo-o, consumindo-o, praticando-o. Deste modo, a sua preservação faz sentido se equivaler à necessidade de ultrapassar a distorção da “monumentalização heróica” e, portanto, da violência como factor de hegemonização, invocando simplesmente a história. Dizer que a sua recuperação, manutenção e actua-lização serão primordiais para ultrapassar o conceito da renovação ou regeneração urbana (no caso do património edificado) é um modelo ainda tímido para o modelo que se lhe segue: da (sua) revitalização. Esta é a chave do desen-volvimento sustentado em que modelos inovadores per-mitirão o aproveitamento do património acumulado que as gerações vindouras apreciarão, esgotadas que estarão as elegias de muitos “memoriais, monumentos, arcos triun-fais, obeliscos, colunas e estátuas” que se refiram ao pas-sado heróico da era das descobertas e/ou das suas conse-quentes conquistas. O Estado tem tendência para se afirmar através de uma “identidade nacional” razão pela qual a Cultura tem sido utilizada para perpetuar a autoridade unificadora; mas o que realmente deve unir as distintas culturas é a sua diver-sidade. É no seu confronto que avançamos. A “regra-ge-ral” é boa para os cientistas e matemáticos. É a esses que serve a norma, a lei universal. Para os homens-da-cultura, a confrontação é o drive force da criatividade, dos projectos inovadores e da competitividade. Nesse sentido, é correcto apresentar os direitos de autor como uma meta a atingir num futuro próximo de modo e premiar os talentos e os (novos) conteúdos para os (novos) meios de comunicação;
*Luís Serpa desenvolveu um modelo de Galeria de Arte (Galeria CÓMICOS_LUÍS SERPA Projectos) que é considerado um “case-study”, pelo facto de conjugar sistemati-camente projectos interdisciplinares incluindo pintura, escultura, desenho, instalação, fotografia e vídeo, design e arquitectura.Através d’O MUSEU TEMPORÁRIO, um projecto de engenharia cultural, Luís Serpa assume-se como um Gestor de Projectos Culturais (Programador), exercendo as funções de Curadoria, Relações Públicas e Planeamento Estratégico para Instituições e Empresas em programas de arte contemporânea, corporate identidy e indústrias criativas.
mas ao afirmar-se o apoio “às Artes e as Industrias Criativas e Culturais” (sic) revela uma má utilização do léxico aplicado à Cultura pois perpetuam-se as “belas-artes” (conceito român-tico da separação do trabalho manual do trabalho intelectual provocado pelos efeitos da segunda revolução industrial do fi-nal do século XIX), termo que ainda deriva do conceito do “hu-manismo cívico” inglês do século XVII praticado por gentlemen para os quais o deleite e criação do “belo” era incompatível com a prática e produção dos objectos do quotidiano. As Indústrias Criativas podem ser um passo importante na evolução e adaptação da produção cultural no âmbito do mer-cado único. Uma Política Cultural Integrada pode confrontar regiões ou cidades e potenciar o aparecimento de uma (nova) Cidade Emergente e Cosmopolita capaz de albergar agentes culturais e económicos que, conjugando esforços, implemen-tem sinergias capazes de potenciar a internacionalização da produção cultural. As Indústrias Criativas [Arquitectura, Mercado Artes Visuais & Antiguidades, Audiovisuais, Televisão & Rádio, Artes Perfor-mativas & Entretenimento, Cinema & Vídeo, Design, Gráfico & Produto, Escrita & Publicação, Moda, Música, Software Edu-cacional & Lazer, Publicidade e Gastronomia], necessitam de mecanismos e instrumentos que contribuam para o seu de-senvolvimento; mas a articulação entre o poder público tarda em chegar: “Cultura”, “Economia” e “Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional” são Ministérios que devem articular um discurso eficaz e implementar uma estratégia comum.Sem essa articulação, duvido que o crescimento cultural, económico, ambiental e, consequentemente, social seja uma realidade a curto prazo.
O. E. 200933
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
Seja na enunciação dos princípios estratégicos, seja nos objectivos definidos, no plano organizacional e orçamental, seja nas medidas anunciadas, uma nova atitude no discurso do Ministério da Cultura parece estar finalmente a surgir, valorizando a componente económica e a dimensão de criação de valor, riqueza e emprego que estas actividades também têm. Com o novo Orçamento de Estado para 2009, é tempo de fazermos um primeiro balanço, ex-ante, daquilo que nos parece mais prometedor e mais compro-metedor nas opções políticas e financeiras do MC apresentadas para o próximo ano.
ECONOMIA DA CULTURA
O que nos promete de novo o
OE 2009 para a cultura:
economia? texto Pedro Costa
Alguns sinais prometedores
O sinal mais positivo é claramente a queda dos tabus e
a assunção clara das actividades culturais como activi-
dades económicas que são e que sempre foram… Mas
espera-se no entanto que isto não seja essencialmente
retórica e que havendo uma efectiva vontade política
de assumir esta nova atitude no MC, que se consigam
vencer os muitos e difíceis obstáculos ao diálogo (in-
terna e externamente ao ministério) e os falsos mitos
que o enganador confronto cultura/economia erigiu…
E espera-se igualmente que este entendimento de
que as actividades culturais são também actividades
económicas não sirva de argumento para a pura sim-
ples entrada destas actividades na esfera do merca-
do… É necessário ter consciência que, pelo contrário, é
importante continuar a centrar a actuação pública so-
bretudo naquelas onde o mercado não funciona e onde
não tem sequer condições de funcionar…
Neste quadro, será também prometedora a fixação
de um eixo prioritário conjugando “Artes e Indústrias
Criativas e Culturais”. Faz sentido a articulação da ac-
tuação e uma definição de prioridades olhando trans-
versalmente para as diversas actividades criativas (nas
artes, nas indústrias culturais, nas “indústrias criati-
vas”), em torno de lógicas transversais, como o apoio
ao surgimento da criatividade, à criação, à formação, à
produção dos bens e serviços culturais propriamente
ditos, à sua promoção, à difusão de informação, à ar-
ticulação em rede e promoção de contactos, à inter-
nacionalização e divulgação, à discussão dos direitos
de propriedade, à promoção da inclusão social e da
participação cívica pela arte, etc. Faz igualmente sen-
tido definir novos tipos de instrumentos e de lógicas de
actuação (como o anunciado fundo de capital de risco,
por exemplo), para fazer face a estes novos desafios...
Mas não se fazem omeletes sem ovos, e parece difícil
alargar a base de intervenção em termos das áreas
que são apoiadas e dos tipos de intervenção abarcadas
sem haver um visível aumento de recursos financeiros
disponíveis para a intervenção, por muito que haja uma
maior racionalização de recursos face às actuais lógi-
cas de intervenção nos diversos sectores e se recorra a
novas fontes de financiamento, será que isso chega? Ou
há prioridades que terão de ficar para trás?
A notícia de um maior grau de contratualização dos
apoios concedidos (em particular os apoios a fundo
perdido…) é também positiva, bem como a do estabe-
lecimento de regras claras em torno dos contratos-
programa com as entidades públicas empresarias do
sector. Mas há que ter em atenção que essa contratua-
lização seja feita tendo em conta os objectivos culturais
que estão na sua base e que os mecanismos e critérios
através do qual seja concretizada garantam a eficácia
da prossecução desses objectivos e não apenas uma
melhoria a todo o custo da eficiência económica e ad-
ministrativa destes processos.
A assunção de parcerias público-privado e de parce-
rias interministeriais, bem como a promoção de um
maior funcionamento em rede, tanto com instituições
públicas (aos diversos níveis) como privadas, parece
igualmente ser um bom princípio de base, para além
de ser igualmente um imperativo no quadro de aperto
financeiro verificado.
Há no entanto que garantir que o desenvolvimento des-
tas parcerias (que para funcionarem precisam de se
centrar na conjugação dos interesses – naturalmente
diferenciados – dos diversos parceiros…), não se tradu-
zam nunca no abdicar dos princípios e objectivos da ac-
tuação pública que importa manter e em particular do
interesse colectivo que visam defender. Nesse sentido,
não podem ser nunca vistas (apenas…) como foram de
obtenção de fontes de financiamento suplementar, mas
antes como uma oportunidade de conjugação de objec-
tivos específicos com outros agentes e entidades que
possam ser mobilizados e juntar esforços em torno de
objectivos comuns…
34
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
Alguns sinais preocupantes
Assiste-se à redução (mais uma…!) da dotação orça-mental global para o sector. 0,1% do PIB e 0,3% das despesas da Administração Central é efectivamente muito pouco... Significa um novo retrocesso (voltando a níveis da década de 80, bem inferiores aos já atingidos, por exemplo, no início dos anos 90…) e uma distância enorme em relação aos nossos parceiros da União Europeia. E se isto se passa em ano de eleições e de esgotamento (ainda) de fundos do Quadro Comunitário anterior, será que são de esperar crescimentos futu-ros? Note-se que toda a retórica acerca da assunção do valor económico da cultura e todas as políticas nesse sentido não dispensam (antes pelo contrário) uma in-tervenção pública forte, nos domínios tradicionais da política cultural, e também em novos domínios… Faria sentido um crescimento e não um decréscimo da dota-ção orçamental para fazer face a esse alargamento de base da política… Para além disso, o peso predominante da “estrutura” e da “máquina” do ministério e dos seus serviços no montante global é novamente um factor de preocupa-ção. O seu peso orçamental continua a ser dominante, não obstante as reduções significativas verificadas (e por muito que seja difícil o corte em termos das despe-sas correntes e de funcionamento em algumas áreas). Será no entanto um aspecto fulcral que importa con-tinuar a prosseguir, de forma a salvaguardar, num contexto de debilidade orçamental, recursos para fazer face aos objectivos primordiais de política, que devem eles próprios passar, como se subentende aliás da es-tratégia anunciada, por um desejável incremento da actuação no intangível e no imaterial, que seja efectiva-mente reprodutível para o agentes do sector cultural. Por fim, a grande dependência do aumento dos inves-timentos previstos (despesas de capital, em particular no campo do património ou de alguns equipamentos) dos financiamentos comunitários, e, em particular neste ano, da conclusão de projectos ainda previstos no PO Cultura do anterior Quadro Comunitário de Apoio, é também um factor que provoca alguma preocupação… A manutenção e sustentabilidade destes fluxos de in-vestimento parece assim bastante comprometida para o futuro, o que pode ser significativo tendo em conta que é este aumento conjuntural de investimento que sustém uma queda ainda maior do orçamento dis-ponível para o próximo ano.
Algumas questões em aberto
Como é que a actuação e a estratégia aqui definidas se conseguirão articular da melhor forma com outros instrumentos de financiamento dos agentes culturais, e em particular com o QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional)? Agora sem um Programa Ope-racional específico para a Cultura como será pos-sível garantir a capacidade dos agentes culturais e das instituições responsáveis pela cultura gerarem (e ganharem…) candidaturas, em concorrência aberta com empresas, instituições e projectos de todas as outras áreas económicas? O que pode ser feito, e qual a capacidade institucional e política do ministério e dos restantes actores do sector, para garantir essa eficácia, assegurando as especificidades do sector?O que significa a passagem, assumida neste OE, do compromisso com as indemnizações compensatórias relativas às Entidades Públicas Empresariais do Ministério da Cultura (D. Maria II, S. João, OPART) para o Ministério das Finanças e da Administração Pública? Reflecte apenas uma ginástica orçamental pontual ou traduzir-se-á num novo quadro de relacionamento (e de assunção de compromissos) com a tutela?Como ultrapassar uma recorrente definição conjun-tural, ou quase casuística, de prioridades, que por vezes parece emergir (neste e noutros orçamentos). Os projectos que efectivamente são assumidos em di-versas áreas (equipamentos, património, etc.), decor-rem de uma estratégia geral bem definida ou andam ao sabor de prioridades conjunturais, associadas à pressão de determinados compromissos políticos as-sumidos em cada momento (p.e., a disponibilização de recursos para os municípios do Oeste e da Lezíria, na sequência da “deslocalização” do aeroporto, a capital da cultura, a disponibilidade de fundos no QREN para certas regiões em detrimento de outras, etc.)?Como conseguir incrementar a articulação da actuação do MC com outras políticas e áreas de acção (educação, turismo, internacionalização, inovação, integração so-cial,…), que cada vez se torna mais necessária e cru-cial? Para além da retórica da importância económica destas actividades, como se faz na prática o diálogo in-terministerial e inter-institucional que permita que ela ocorra? Já se fala de alguns projectos de articulação concreta nesta proposta, mas como generalizá-los, e sobretudo, como gerar uma cultura de diálogo e co-laboração ente os diversos ministérios e organismos (e com as autarquias locais, que crescentemente as-sumem o papel de maiores investidores públicos na área da cultura no país)? Pedro Costa é economista, sendo responsável pelo projecto Dinâmia/ISCTE, actualmente a cooordenar o prgrama Estratégias para a Cultura em
Lisboa, em articulação com Câmara Municipal de Lisboa.
O. E. 200935
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
ARRITMIA
CAMAROTE PARAndré Dourado
Era uma vez um Museu em Belém. Com mais de cem anos, fundado pela última Rainha de Portugal, era um dos mais visitados do país, para muitos o melhor do mundo no seu género, um verdadeiro caso de sucesso num país não muito habituado a ele. Um dia resolveram mudá-lo e morreu. A primeira parte desta história, certamente não de encantar, pode contar-se de outra maneira, igualmente triste, e para o fazer não é preciso recuar muito no tempo.
No passado dia 4 de Outubro, nos jardins do Palácio de Belém, na inauguração da exposição presidencial comemorativa do dia 5, não foram poucos os que repararam nas muitas telhas descaídas na cobertura do Museu Nacional dos Coches. Tendo tido obras há poucos anos, não é difícil perceber que se poupou num elemento fundamen-tal em matéria de telhados, a sua fixação, e que o resultado disso se chama infiltração. Presume-se que se chovesse em cima dos coches já o sabíamos, mas a alternativa não é menos assustadora: chama--se danos estruturais. Se um proprietário privado pode ser pelintra ou poupado, o Estado não o deve ser com o seu património histórico, sobretudo quando este gera receitas para ser bem mantido.Mas mais grave do que isto é quando os representantes do Estado agem como se o património de todos fosse seu, ignorando a opinião dos especialistas e dos organismos técnicos, neste caso raramente unânime: é o que se passa com o projecto do novo Museu dos Coches, que tem o Ministro da Economia Manuel Pinho como condu(ca)tor e o Ministro da Cultura Pinto Ribeiro como atrelado.
O MUSEU(P)INHO DOS COCHES UMA HISTÓRIA
A primeira vez, que me lembre, que se falou na possibilidade de am-pliação do Museu dos Coches, foi no tempo de Pedro Santana Lopes, tendo a ideia ficado por aí no meio de um programa de intervenções mais necessárias em outros museus portugueses, e investimentos de monta como o Centro Cultural de Belém.Mais tarde, em Julho de 1998 anunciou-se a mudança do Museu dos Coches para possibilitar a instalação no seu espaço, no ano 2000, daquele que era apresentado como “o mais antigo picadeiro barroco do mundo: o Picadeiro Real.” O museu era transferido para as anti-gas Oficinas Gerais de Material de Engenharia do Exército (OGME), o que se fazia “para dotar a Escola Portuguesa de Arte Equestre de um recinto para espectáculos de gala, digno do seu excepcional nível”, e permitir a reabilitação das antigas Cavalariças Reais. A comissão coordenadora do projecto era presidida por Rui Vilar, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, e integrava representantes dos ministérios da Cultura e da Agricultura e da Câmara Municipal de Lis-boa. Este projecto foi fortemente incentivado pela Agricultura, que via nele uma forma de divulgar e valorizar o cavalo lusitano e aumentar a sua exportação, mas passado algum tempo caiu no esquecimento.Em 2006 a ideia volta à superfície mas, desta vez, tendo o novo Museu dos Coches como centro (“projecto-âncora”) de um plano pomposa-mente baptizado como Belém Redescoberta, anunciado como criando uma “nova centralidade turística em Lisboa”, caso flagrante de re--invenção da roda atendendo a que Belém é desde há muito, como atestam os números de entrada nos seus vários equipamentos cul-turais e a frequência da restauração e das suas áreas verdes, o ver-dadeiro centro turístico da cidade. Os termos em que todo o programa foi descrito na apresentação pública são eloquentes. O projecto é “multi-departamental” e envolve as valências (sic) de diversos Minis-térios, designadamente do Ministério da Economia e da Inovação, do Ministério da Cultura, do Ministério da Defesa Nacional, do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em concertação com a Câ-mara Municipal de Lisboa e a Associação Turismo de Lisboa.“O novo edifício do Museu dos Coches irá albergar a totalidade da colecção, única no mundo, o que representa uma vantagem relativa-mente às actuais instalações, que apenas comportam 60% das peças. As restantes, no total de 73 viaturas dos séculos XVIII a XX, que se encontram actualmente em Vila Viçosa, serão então transferidas para Lisboa.[...] A instalação do museu no novo edifício vai permitir a recu-peração do antigo Picadeiro Real, devolvendo-o à sua função origi-nal, para receber exibições da Escola Portuguesa de Arte Equestre e promover o cavalo lusitano. [...] As alterações reflectem uma oferta museológica ímpar no mundo que conjuga o antigo e o moderno. Desta forma, a zona passa a associar o Museu dos Coches [...] com o novo Museu Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, um como-dato de 863 peças [...]. O programa agora apresentado prevê ainda a requalificação do espaço público de Belém, criando uma identidade própria, com sinalização uniformizada, que identifique de forma cor-recta e coerente os vários equipamentos culturais e turísticos desta zona [...]. A atracção de restaurantes de gastronomia sofisticada, bem
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
38 OPINIÃO
como de lojas de alimentação, vinhos e produtos gastronómicos, para além de espaços trendy, como pequenas galerias, bares, livrarias, ou boutiques especializadas está também prevista neste plano. Outra iniciativa do Belém Redescoberta passa pela iluminação da orla flu-vial, que vai tornar inesquecíveis os jantares-cruzeiro no Tejo a partir de Belém [...] A utilização permanente de cenários vizinhos para ex-posições, tais como a Cordoaria Nacional, o Museu de Arte Antiga, o Museu da Electricidade e o futuro Centro Cultural do Oriente, é con-siderada neste projecto. [...] A oferta turística e cultural pode vir a ser complementada por um programa permanente de animação, que sublinhe as características românticas de Belém, designadamente passeios de charrete e o célebre render da guarda do Palácio de Belém. [...] Este mix vai servir de ponto de partida para um programa de marketing internacional dedicado a esta zona da cidade(...)”Se aqui transcrevo este “mix”, certamente trendy, que entre passeios parolos de charrete e jantares fluviais à luz da EDP e uma confusão com Buckingham nos deixa quase enjoados, é para que se perceba, nas suas próprias palavras, quais são as bases do projecto. O princi-pal museu português, o Museu Nacional de Arte Antiga, “é um cenário vizinho para exposições”, e da associação entre o Museu dos Coches e a colecção Berardo nasce “uma oferta museológica ímpar no mundo que conjuga o antigo e o moderno” (viajado, o autor do texto!). O Pa-lácio de Vila Viçosa perde as suas carruagens, boa parte das quais de caça - motivo pelo qual os monarcas da Casa de Bragança se lhe mantiveram fiéis – fazendo tanto sentido mostrá-las todas em Lisboa como colocar o “coche dos Oceanos” da Embaixada de D. João V ao Papa no meio da Tapada daquele palácio alentejano.Os problemas, esses, são ignorados: as antigas OGME (que deviam ter começado a ser destruídas em Setembro) albergam a melhor biblio-teca de arqueologia do país, o arquivo corrente e histórico da arqueo-logia portuguesa, os laboratórios e as colecções de paleoecologia e de arqueociências, bem como o espólio náutico e subaquático do IGESPAR, sem que lhes tenham encontrado um destino; a utilização intensiva do Picadeiro por animais pode colocar em causa a conserva-ção da sua decoração interior e, last but not least, não parece credível que o Presidente da República aceite passar a ter cavalariças activas no Palácio de Belém (algo me diz que ainda ninguém se lembrou de lho perguntar). Entretanto o projecto parece ter passado a fazer parte do programa das comemorações do Centenário da República, o que até permite uma refundação que faça ombrear o seu actual promotor com a rainha D. Amélia (que era alta, muito alta).Ao contrário do que alguns possam pensar, esta não é uma guerra de velhos do Restelo, por uma vez bem localizados, com os partidários da cidade moderna: não é a qualidade do projecto arquitectónico de Paulo Mendes da Rocha (na imagem) que está em causa, mas sim a pertinência do programa que lhe serve de base. De resto, e como com o Parque Mayer in illo tempore, trazer um arquitecto estrangeiro, re-cente Prémio Pritker, não legitima por si só uma intervenção urbana e cultural, além de que “o barroquismo excessivo [...] confuso” que este viu no actual Museu é, para muitos, o seu principal atractivo.
Podia-se até pensar, com conta, peso e medida, em passar as carrua-gens menos importantes para o outro lado da rua, recuperando parte dos edifícios existentes com uma intervenção mais leve, deixando os coches mais significativos com melhor exposição no espaço original (solução aceite por alguns especialistas). Mas é verdadeiramente surpreendente que a vontade de um ministro de deixar o seu nome associado a uma obra resulte no investimento num só Museu, numa não-necessidade, de 27 milhões de euros (apenas um terço deles proveniente das contrapartidas do Casino Lisboa) no mesmo ano em que as verbas disponibilizadas para todo os museus que fazem parte do Instituto dos Museus e Conservação sofreram um corte de 38,4%, fixando a sua dotação nos 20 milhões e meio de euros!
Curiosamente, não existe uma só palavra sobre este projecto no tex-to elaborado pelo Ministério da Cultura e que integra o Relatório do Orçamento de Estado 2009, apesar de se referir uma “parceria com o MEI para uma exposição de grande impacto internacional”, o que revela que no MC não se aprendeu nada com a absurda experiência do Hermitage. Ou será que esta é uma referência à exposição Encom-passing the Globe, programada para o Museu Nacional de Arte Antiga, e assim garantida com fundos do MEI?
Se querem investir 27 milhões de euros nos museus portugueses não falta onde nem em quê: só em Lisboa e também na zona de Belém têm a valorização do Museu Nacional de Arqueologia como museu da história e identidade pré-nacional; a expansão do Museu do Chiado e da Academia de Belas Artes com a sua biblioteca e colecções; a extensão do Museu do Azulejo; a instalação definitiva das Jóias da Coroa (este sim, um projecto perfeito para as comemorações do Cen-tenário da República, que afinal remeteu a monarquia para categoria museal). Querem ser modernos e acompanhar os ares dos tempo? In-vistam nos Museus da Politécnica/Faculdade de Ciências e no Jardim Botânico, é ecológico e pode ser que dê direito a picture com o Al Gore (o fee dele é meio milhão de dólares, menos do que uma campanha fotográfica do Instituto de Turismo). E que tal os cinquenta monumen-tos em risco, de que falava o actual Ministro da Cultura numa das suas primeiras entrevistas? Ou o restauro do Conservatório de Lisboa no Bairro Alto?
.* o trocadilho poderia ser Museu(p)into se o Ministro da Cultura tivesse algum papel con-dutor no projecto, mas tudo indica que este anda mais preocupado com a economia e a indústria, mesmo que da cultura. Um caso manifesto de inversão de personalidades e pa-péis...
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
39 OPINIÃO
41
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
NA PARTIDA DE CARLOS PORTO (1930-2008)
texto Eugénia Vasques
O MERCADOR DE VENEZADE WILLIAM SHAKESPEARE,
ENCENAÇÃO DE RICARDO PAIStexto João Paulo Sousa
DANIEL JONASO MERCADOR DE VENEZA
EM NOVA TRADUÇÃOtexto Elisabete França
LA DANSEUSE MALADECOREOGRAFIA DE BORIS CHARMATZ
texto Gérard Mayen
L'APRÈS-MIDI (D'UN FAUNE)COREOGRAFIA DE RAIMUND HOGHE
texto Franz Anton Cramer
GOING TO THE MARKET, TWO DRAWINGS e MY FATHER'S DIARY
PERFORMANCES DE GUY DE CONTETtexto Florent Delval
BERLIM - SÃO PETERSBURGO225 ANOS DO TEATRO
MARIINSKY EM BERLIMtexto João Carneiro
BESTAS DE LUGAR NENHUM,DE UZODINMA IWEALAtexto António Quadros Ferro
MR. NORRIS CHANGES TRAINS e GOODBYE TO BERLIN DE CHRISTOPHER ISHERWOODCABARETENCENAÇÃO DE DIOGO INFANTEtextos João Carneiro e Tiago Bartolomeu Costa
JOGO DE CENAFILME DE EDUARDO COUTINHOtexto Tiago Manaia
ESPECTÁCULOS
LIVROS
FILMES
42
44
48
50
52
54
46
56
60
62
66
70
ÍNDICE
NA PARTIDA DE CARLOS PORTO (1930-2008)"PARA MOSCOVO, PARA MOSCOVO":
texto Eugénia Vasques
Para a Teresa“Irina: Partir para Moscovo… Vender a casa, acabar com tudo aqui, e para Moscovo…Olga: Sim, o mais depressa possível, para Moscovo. ...Tuzenbach: ... Os tempos mudaram, há qualquer coisa de formidável que avança sobre nós. Prepara-se um temporal forte e saudável que há-de varrer da nossa sociedade a preguiça, o preconceito contra o trabalho, o tédio pestilento...” Tchekov, Três Irmãs, trad. Augusto Sobral, Carol Loff, Rui Mendes, Lisboa, Relógio D’Água, 1988, pp. 9, 13.
42
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
Em dois anos consecutivos, 2006 e 2007, escrevi, em Outubro, textos sobre Carlos Porto. O primeiro destinou-se a um mais do que devido dossier apologético, organizado pelo Jornal das Letras, jornal onde terminou a sua carreira de 50 anos como crítico de teatro; o segundo para a SPA, sociedade a que pertencia como escritor associado e, até ao fim, também como colabo-rador. Este ano, também no mês de Outubro, despedimo-nos de Carlos Porto a 29 de Outubro. Este texto é, pois, um epicédio ao veterano da crítica teatral portuguesa que colocou a actividade crítica no plano profissional e liderou o desempenho das gerações de críticos de teatro, jornalísticas e universitárias, a partir da década de 70.
1. O livreiro, editor, poeta, tradutor, dramaturgista, ficcionista e episódico professor de teatro no Conservatório Nacional (em meados dos anos 70), José Carlos da Silva Castro, nascido no Porto, em 1930, que, a partir de 1958, no quinzenário Planície de Moura, enveredou pela crítica de teatro, tem um nome ficcional, toponímico, que iden-tifica a sua persona pública e autoral: Carlos Porto. Co-fundador da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro (ACP), Carlos Porto foi, e sobretudo por isso ficará na história, o activo e interventivo crítico de teatro do Diário de Lisboa que, ainda antes do 25 de Abril – quando usava gravata preta por «estar de luto pela Liberdade» --, e depois da Revolução, transformou o locus teatral daquele vespertino na mais acesa e dinâmica plataforma de debate de ideias e de combate ideológico que jamais existiu. Colaborador, durante décadas, em diversas publicações teatrais e meios, nacionais e estrangeiros, como reconhecido representante e porta-voz de muito do teatro em Portugal, Carlos Porto dedicou-se também, apaixonado que era por livros, à tradução e adaptação de autores e dramaturgos que amava ou apreciava (e cujos frutos pude acompanhar), como Yannis Ritsos (Crisótemis, com interpretação de Fernanda Lapa e enc. de Rogério de Carvalho, 1981), Arbuzov (Comé-dia à Moda Antiga, enc. de João Lourenço, Novo Grupo, 1985), Tchekov (O Jardim das Cerejas, também enc. de J. Lourenço, Novo Grupo; Pla-tonov, enc. António Auguto Barros, TEUC), Skarmeta (O Carteiro de Neruda, enc. Joaquim Benite, T. Almada) e Garrett (Viagens na Minha Terra, enc. J. B., T. de Almada/ACARTE). Traduziu, paralelamente, menos em quantidade do que em qualidade, incontornável ensaísmo teatral, destacando-se, pela sua actualidade, as obras Introdução à Análise do Teatro, de Jean-Pierre Ryngaert (Lisboa, Asa, 1992) e O Diabo é o Aborrecimento, de Peter Brook (Lisboa, Asa, 1993).Como crítico de teatro, Carlos Porto deixou publicadas duas obras que estabeleceram, exemplarmente, na crítica teatral, a metodolo-gia das “Fichas” de espectáculo: Em Busca do Teatro Perdido, 2 vols. (Lisboa, Plátano, 1972) e 10 Anos de Teatro e Cinema em Portugal, com Salavato Teles de Meneses (Lisboa, Caminho, 1985). Publicou, ainda, com centro no seu amado Porto, Livrarias e Livreiros: Histórias
Portuenses 1945-1994 (Porto, Leitura, 1994), O TEP e o Teatro em Portugal (Porto, Fundação António de Almeida, 1997), FITEI-Pátria do Teatro de Expressão Ibérica (Porto, F. A. de Almeida, 1997), João Guedes: Retrato Incompleto de um Criador Teatral (Lisboa, Afronta-mento, 1997). Como poeta, tem obra dispersa em várias antologias e publicou Poesia Cega (Porto, Campo das Letras, 2000). Como ficcionista, deu à estampa a narrativa Fábrica Sensível (Lisboa, Cotovia, 1992), que Jorge Listopad encenou no Teatro Nacional D. Maria II em 1996, e preparava, segundo testemunho de Teresa Porto, sua companheira e «tão certa secretária», um volume de curtos contos perpassados, perturbadoramente, pela obsessão da morte.
2. Depois de duas décadas de crítica formativa, informativa e militante, nos anos 80, anos da entrada em cena, entre nós, de um pensamento liberalizante, quer a nível estético quer de produção, a escrita crítica de Carlos Porto sofre uma transformação muito visível, patente na abertura que então fez a um olhar e análise mais permeados pela semiologia do que pela dominância da dramaturgia. É também nes-ta fase que o poeta se vai intrometendo, através das traduções de poetas-dramaturgos (Ritzos, Arbuzov, Tchekov, Heers), na escrita da crítica de teatro. Os seus textos, num tempo de críticas amplas e prazeirosas, são mais poéticos, mais permeáveis à opinião académica (paralelamente às suas traduções ensaísticas), mais afectivos, mais sensualizados.A fase posterior (anos 90-2000), momento disfórico da crítica jor-nalística, é a fase em que Carlos Porto, pessoa tímida e circunspecta, assume, na escrita, essa afectividade e a transformação do discurso didáctico em discurso de interesse absoluto pelos mais novos que, aliás, sempre demonstrou. Tinha grande respeito pelas actrizes e ac-tores e uma indisfarçável camaradagem pelos seus pares, novos ou menos novos. Também era, como os actores, um bocadinho ciumento e talvez tenha sido por isso que me apetecia estragá-lo com mimos e atenções.
43
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOCARLOS PORTO (1930-2008)
O MERCADOR DE VENEZADE WILLIAM SHAKESPEARE, ENCENAÇÃO DE RICARDO PAIS
PSICANÁLISE DE UM HOMEM TRISTE E DA SUA CIRCUNSTÂNCIA
texto João Paulo Sousa
Ao estruturar o espectáculo O Mercador de Veneza a partir de uma re-organização das cenas originais da peça de Shakespeare, separando os momentos da acção que decorrem em Veneza dos que têm lugar em Belmonte, Ricardo Pais afastou-se de uma das características da obra do dramaturgo inglês - a saber, a apresentação de acontecimen-tos que decorrem alternadamente em espaços distintos -, para propor outro tópico da modernidade: a recusa de uma sequência linear na temporalidade da história. Assistir à representação assim dividida em duas partes não serve só para tornar mais nítida a diferença de tom entre o que ocorre numa e noutra cidade, mas também permite conferir à segunda metade do espectáculo um carácter explicativo da primeira, quer em termos de fábula, quer ao nível das possibilidades interpretativas da peça. É preciso lembrar, então, que o intervalo chega depois da cena do tri-bunal — ou, melhor ainda, depois do momento em que Pórcia (Micaela Cardoso) e Nerissa (Lígia Roque) se desmascaram apenas diante do espectador —, em que Shylock (António Durães), apesar de proferir o célebre discurso que contraria os estereótipos da representação dos judeus, não escapa a uma punição notoriamente cruel. Apresen-tar essa cena antes de qualquer figuração de Belmonte e dos seus habitantes permite que a primeira aparição das duas personagens femininas seja concretizada sob trajes masculinos. Não é apenas a di-mensão de mascarada ou de ambivalência sexual o que está aqui em causa, pois, se atentarmos cuidadosamente nas roupas escolhidas, a par dos cabelos lisos e dos pequenos bigodes, bem como dos mo-mentos em que Pórcia se coloca de perfil, a decisão do tribunal, que recai sobre um judeu com um distintivo amarelo ao peito, potencia a nossa memória da Shoah e afasta a peça de qualquer tipo de leitura apressadamente anti-semita.Colocada a questão nestes termos, a segunda parte torna-se apta a cumprir um olhar problematizante sobre a situação do judeu, apesar da sua ausência em palco, através da reflexão suscitada pelo com-portamento das personagens pertencentes ao universo cristão. De outra forma, ou seja, sem a já descrita reorganização das cenas, tal efeito teria sido bem mais difícil de obter. Assim, importa pouco que o conflito exposto e resolvido em tribunal seja identificado como um possível clímax (para cuja intensidade concorre a expressividade da música de Vítor Rua e a interpretação notável de António Durães), pois a dimensão crítica de que a segunda parte se reveste precisa de um afastamento das emoções violentas proporcionadas por uma cena como a referida. Se a desmontagem dos enganos do tribunal é uma das estratégias utilizadas para caracterizar o mundo cristão de Belmonte (e, por me-tonímia, relativizar a hipotética superioridade moral de qualquer re-ligião), há um momento especialmente forte na segunda parte, quer em termos visuais, quer do ponto de vista textual, que consiste num
delírio ou numa alucinação de António (Albano Jerónimo): com o corpo de Shylock sobre si (os dois enquadrados num rectângulo luminoso, em plano superior ao do palco), ele profere falas que chegam da cena do tribunal, outras que antecipam o que alguém dirá e ainda outras que apenas aí se ouvirão. Há aqui uma clara dimensão onírica, que só não surpreende de forma mais radical o espectador porque toda a encenação dialoga bem com um ambiente de sonho, conseguido, em grande medida, pelo despojamento cenográfico, com a força suges-tiva das escoras suspensas, na primeira metade do espectáculo, e a geometria a preto e branco da plataforma central, presente durante toda a peça, que estabelece uma continuidade entre Veneza e Bel-monte. Espécie de problematização de pendor psicanalítico, o delírio do triste António funciona como sugestão de um interdito na relação do mercador veneziano com a figura do judeu; dito de outro modo, é toda a violência lançada sobre Shylock que assim aparece ques-tionada nos seus fundamentos, nas suas razões de aparência legal, incitando o espectador a um olhar mais atento sobre as hipocrisias comportamentais dos que o puniram até à miséria.Não é despiciendo notar como um espectáculo com tão grande carga emotiva se constrói a partir de uma acentuada contenção de gestos. Mesmo o desenho da cena do tribunal — em que a necessidade de decidir sobre o direito de Shylock a reclamar meio quilo de carne do corpo de António sustenta e agudiza a tensão — é feito com a redução dos movimentos das personagens quase a um mínimo expressivo. Assim, se o instante em que Shylock se apresta a retalhar o mer-cador veneziano aparece dotado de uma força suplementar, também as falas das personagens se impõem como elemento decisivo para uma construção segura da conflitualidade e da tensão dramática. Neste particular, difícil seria que o espectáculo fosse eficaz nos seus propósitos se não contasse com actores cuja dicção responde de modo tão exacto à tradução de Daniel Jonas. A precisão vocal pode mesmo considerar-se um ponto especialmente importante na tran-sição entre as duas partes do espectáculo, visto que o universo de poder feminino concentrado em Belmonte é preparado pela retirada das máscaras de Pórcia e Nerissa e pela subsequente recuperação do timbre natural das suas vozes. É na linguagem que se sustenta, em grande medida, o poder representado neste espectáculo, como a cena do tribunal torna bem evidente, mas é também na voz humana que reside a possibilidade de libertação catártica, como o delírio de António tende a demonstrar. Com a inserção feliz desta cena, Ricardo Pais conseguiu distender habilmente as ambivalências da peça de Shakespeare, alargando o alcance da hipotética reflexão do especta-dor. Em tempos de tão acentuada penúria crítica, este não será um dos menores méritos do seu trabalho.
O Mercador de Veneza estreou no Teatro Nacional S. João a 7 de Novembro e apresenta-se até 23 deste mês.
44
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOESPECTÁCULOS
SHAKESPEARE VEZES TRÊS MAIS UM
O Mercador de Veneza é a terceira peça de William Shakespeare en-cenada por Ricardo Pais. Antes disso apresentou Noite de Reis (Te-atro Nacional S. João, 1998) e Hamlet (Teatro Viriato, 2002). Diz o seu biógrafo, Paulo Eduardo Carvalho (Ricardo Pais – Actos e Variedades, Campo das Letras 2006) que há no encenador um “fascínio com as virtualidades auto-reflexiva de muitos dos textos dramáticos que es-colheu encenar”, reflectindo, “compreensivelmente, a sensibilidade de um criador mais preocupado com o imprevisível potencial cénico dessas ficções do que com o seu já mais codificado núcleo de temas ou ideias”. É dessa forma que podemos entender Um Hamlet a Mais (Rivoli- Teatro Municipal, 2003), “experiência de mais radical revisão dramatúrgica, extremando o ‘teatro mental’ sugerido pelos monólo-gos do protagonista, e para um mais assumido jogo performativo com as linguagens cénicas, capaz de ‘valorizar a música, o tratamento de som e o jogo livre de associações plásticas, dando-lhes muitas vezes a dianteira, até em relação à sequencia estritamente visual’”.
Para saber mais: Ricardo Pais – Actos e Variedades, de Paulo Eduardo Carvalho (edições Campo das Letras), com extensa bibliografia e iconografia sobre as peças acima referidas. A obra da qual se recolheram as citações acima, foi objecto de recensão na OBSCENA#2.
© J
oão
Tuna
45
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
NOTAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DUM POETADANIEL JONAS,
texto Elisabete França
Tradutor da tragicomédia de Shakespeare O Mercador de Veneza (Livros Cotovia), em cena no Teatro Nacional S. João, dramaturgo ele mesmo e poeta já reconhecido, a par da docência e da investigação literária, quem é Daniel Jonas?
© J
oão
Tuna
46
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOESPECTÁCULOS
Tentar-se-á delinear-lhe um perfil, a tracejado, não mais do que es-boço, com uns versos de Jean Cocteau por fronteira: “Pergunto-me como há gente/ capaz de escrever a vida dos/ poetas, se os poetas, eles/ próprios, seriam incapazes de/ escrever as suas vidas.” Como que fazendo contraponto a versos do próprio Daniel Jonas: “DESCUI-DO-ME DA VIDA, ABRAÇO A OBRA./ Eu vivo, quase apenas p’ra dizê-lo”, citados de Sonótono, o seu quarto livro de poemas publicado pela Livros Cotovia e distinguido pelo Prémio do P.E.N. Clube Português de Poesia 2007. Porque é de um poeta que se trata – en tous ses états, diria, deliberadamente numa expressão idiomática algo intraduzível.A entrega do prémio em Lisboa, na tradicional cerimónia em presença do Presidente da República, está marcada para 15 de Dezembro, na Sociedade Portuguesa de Autores. A distinção, que contempla tam-bém ensaio, novelística e primeira obra, foi corrida a escolhas duplas ex-aequo, excepto na narrativa. Na poesia, o poeta e ensaísta Fernan-do Guimarães, o professor, crítico e ensaísta Fernando J. B. Martinho, o jornalista e crítico Francisco Bélard premiaram, além dos sonetos de Daniel, Segredos do Reino Animal, de Helder Moura Pereira (As-sírio & Alvim), distinguindo dois poetas de diferentes gerações e ‘filia-ções’, apesar da matriz académica anglo-americana comum. Daniel Jonas, acolhido pela Cotovia desde 2005, com Os Fantasmas Inquilinos (terceiro título de poemas editado e primeiro com esta chancela, antes da recolha premiada), publicou entretanto Nenhures (“exercício metateatral” criado com o Teatro Bruto no Teatro Carlos Alberto, numa “encenação muito inteligente” de Ana Luena, em ex-periência a continuar com novo texto já encomendado). E em portu-guês recriou obras canónicas, como o épico Paraíso Perdido (a queda de Lúcifer em 10 565 decassílabos burilados pela pena do poeta seis-centista inglês John Milton, acontecimento no nosso meio editorial culto em 2006), ou a já referida peça do bardo britânico antecessor de Milton, William Shakespeare (levada à cena numa versão remon-tada pelo encenador Ricardo Pais e equipa, com activa participação do tradutor, co-responsável por cortes e outras arriscadas operações). Ou ainda uma versão, absolutamente inédita, da peça de Pirandello Seis Personagens à Procura de Autor, que também “era para ter sido feita mas, à época, no âmbito do teatro universitário, não houve condições” e que a editora de André Jorge “talvez publique”, diz à OBSCENA o jovem autor (nascido no Porto há 35 anos mas aparentan-do 25), docente do ensino básico na cidade natal. Aí se iniciara também ao palco na qualidade de intérprete, em personagens como Édipo Rei, na Faculdade de Letras onde concluiu o curso de Línguas e Literatu-ras Modernas, começado em Lisboa a par dos estudos de Teologia no Seminário de Queluz – devidos “à fé” mas “também por atracção intelectual e interesse sociológico” e à vontade de “recuperar a figura renascentista do pregador”, revela-nos.Depois, embora voltasse para o Norte, onde continua a ter a sua base familiar, social, profissional – na falta duma bolsa de estudo indis-pensável para prosseguir investigação no estrangeiro, que ainda não conseguiu obter –, tem sido na Universidade Clássica de Lisboa que Daniel Jonas prossegue estudos de pós-graduação. Já a sua tradução
de Paraíso Perdido decorreu, aliás, duma tese de mestrado em Li-teratura Inglesa, supervisionada por António M. Feijó (exímio tradutor do Hamlet de Shakespeare, por sinal); agora, é o também ensaísta Miguel Tamen quem lhe orienta a pesquisa para doutoramento em Teoria da Literatura, versando ainda a obra do poeta e polemista Mil-ton, com incursões por Freud e pela poesia do norte-americano John Ashbery (1927).Investigador, tradutor ou autor, no trilho lírico, no épico ou no dramático – se tais compartimentos estanques fossem possíveis e as-sim não parece –, pode dizer-se ser a poesia que alimenta a múltipla actividade intelectual de Daniel Jonas. Poesia marcadamente atípica no quadro das vias mais reconhecíveis seguidas pelos poetas da ‘ge-ração de setenta’ que é a sua – mais ou menos epígonos de Eugénio, ou de Herberto, ou então dessas galáxias se querendo distanciar, abrigando-se sob o algo prosaico ‘cartucho’ duma geração nascida para a literatura quando esta vinha ao mundo –, a escrita de Jonas, com vitalidade neologística e subtilíssima ironia, culto de trocadilhos, jogos de palavras, tudo harmonizado em molde clássico, acaba por aproximar-se da música. De facto, o autor dessa poesia com matriz vincadamente anglo-americana também fez “alguns anos de guitarra clássica”, deu “uma espreitadela no piano e no canto” – diz-nos mes-mo ter Leonard Cohen por modelo de “cantautor, que era o que queria ser” e adianta, num sorriso a humedecer-lhe de ironia os lábios finos: “Ainda vou a tempo, ele começou a ir por aí aos 35 anos”.Quando “está muito no início” a sua segunda peça para o Teatro Bru-to, Daniel Jonas tem “a poesia mais parada devido às traduções” e tenta “arrumar alguns projectos”, tendo deixado já outros concluídos, como a tradução do romance francês À Rebours, do escritor natu-ralista Joris-Karl Huysmans (1848-1907), no prelo da Cotovia. Autor esquecido, dum cenáculo onde avultaram os nomes maiores de Émile Zola e Guy de Maupassant, o que nele veio seduzir Jonas foi o seu modernismo avant la lettre, forjado com “uma erudição impossível hoje, um frenetismo intelectual admirável”, balanço sucessivo “entre o insulto ao autor e o riso a bandeiras despregadas, podendo mesmo ler-se como livro humorístico”.Com o seu nome que começa por sugerir-nos pseudónimo literário, de dupla conotação bíblica, fazendo a força da fé ombrear com a dúvida, Daniel Jonas gere uma “herança pesada” adveniente das raízes fa-miliares protestantes – ainda que não haja pastores na família, tendo a via do seminário sido “uma escolha pessoal” que percebemos não incentivada familiarmente, apesar da educação protestante que em família lhe foi ministrada. A multiplicidade das referências amplia a identificação do poeta, que se nos escapa todavia em delicadas reser-vas, discretíssimo, como se sentisse excessivos os seus destacados dois metros de figura esguia e dançante, de ex-hoquista em patins, essa enleante “espécie de dança mais desporto”. Mas também, longe de nós qualquer veleidade de “escrever a vida” de alguém (poeta ou não), pelo elementar pudor que fundamentam aqueles versos de Coc-teau, adiantados à laia de advertência neste misto de perfil e nota biobibliográfica.
47
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
"ESGRIMA INTELECTUAL" OU "SUDOKU LITERÁRIO"
O MERCADOR DE VENEZA EM NOVA TRADUÇÃO
texto Elisabete França
Jogo cada vez mais fino, recortando em filigrana as correspondên-cias interlinguísticas, ritmos e sonoridades, a tradução sugere a Daniel Jonas combates com textos alheios, guarde o corpo uma memória de esforço ou de perícia.
© J
oão
Tuna
48
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOESPECTÁCULOS
Tendo definido o seu labor sobre Paraíso Perdido como “um pugilato” com o texto (entrevista a Isabel Lucas, Diário de Notícias/ 6ª, Junho 2006), é já de “uma esgrima intelectual” que o tradutor fala, no res-caldo de O Mercador de Veneza. Foi de Ricardo Pais o convite para tal trabalho incluindo equipa artística, dos ensaios de mesa aos de sala, “seis horas por dia, seis dias por semana”. A versão integral do texto foi objecto de alguns cortes e, além de inter-venções pontuais como a duma rêverie do mercador António a dado passo dramático, feita do eco de várias falas anteriores, houve radical desmontagem e remontagem de cenas – as de Veneza e as de Bel-monte em dois distintos blocos sequenciais, o clímax do IV acto entre eles, com o efeito distanciador de suspender a montagem paralela que Shakespeare praticamente inventou, invento revolucionário para a arte narrativa que, de tão utilizado, corre hoje paralelo à banaliza-ção telenovelesca. Mas a edição impressa é integral, tendo os decas-sílabos de origem passado a versos alexandrinos (dodecassílabos), acompanhando a mais ampla articulação do português, menos sin-tético, de resto em toda a linha, do que o inglês. O método do tradu-tor passa ainda pela comparação de versões, por regra em diferentes línguas. Mas o que nessa actividade avulta, para Daniel Jonas, é “o prazer de arranjar sucedâneos, com pequenos-grandes desafios” de caminho, imperando na explicação que nos dá a imagem do jogo/do gozo ou, como ele diz, “duma espécie de sudoku literário”.A atenção que passou a ser dada entre nós, nos anos recentes, à grande tradução literária segundo parâmetros de exigência, bem como o gosto novo de editoras diversas pela publicação de literatura dramática (traduzida ou na língua materna), fazem com que só não tenhamos agora três traduções de O Mercador de Veneza em menos duma década, porque a Campo das Letras protelou, sem data, edição da peça no quadro do projecto Shakespeare para o século XXI, es-timável empreendimento em curso, embora com resultados irregu-lares, efectuado em parceria com uma equipa da Faculdade de Letras do Porto. O primeiro registo de tradução portuguesa que obtivemos é do século XIX, com três edições diferentes – a primeira sem autor identificado, a segunda do académico Bulhão Pato (mais conhecido por certo arranjo de amêijoas), a última do rei D. Luís de Bragança, em linguagem ainda aceitável, prosa solta, correspondências cor-rectas, como se vê na edição bilingue que a Europa-América reedita (Livros de Bolso).Ignoramos em absoluto quantas traduções, eventualmente feitas para representar a peça em diferentes épocas, ficaram inéditas em livro, mas o número de três edições repete-se no século XX, com o texto traduzido por Domingos Ramos (1912), João Grave (1926) e F. E. G. Quintanilha (Presença, 1971), este ainda cotejado no recente tra-balho de Helena Barbas para a Companhia de Almada (Extramuros, série Água Forte/2002, incluindo notícia de edições que utilizámos
também). Esta professora de literatura na Universidade Nova de Lis-boa, afirmada no registo de tradução com Poemas Eróticos de John Donne (Assírio & Alvim/1998, prémio P.E.N. na modalidade), confirma à OBSCENA ter feito, igualmente, regular trabalho preparatório com a equipa teatral dirigida por Joaquim Benite. No prefácio, chamara-lhe “prova de fogo do palco”, continuando a lembrar agora que “foi mesmo dura!”.Estilisticamente, esse trabalho obedeceu menos às estruturas rít-micas de base, fluindo em diversos metros de verso branco, só oca-sionalmente rimado. As passagens em prosa são, também aqui, as inerentes ao original, recurso shakespeariano com critério não muito claro nem uniforme. Comparando a sua tradução com a de Daniel Jo-nas, vê-se que esta perde ocasionalmente, em favor da métrica, para a forma idiomática. É assim que, por exemplo, fica elidida a ‘incor-recção política’ da forma original, numa ‘pérola’ misógina sem remis-são relativa ao falar e ao calar (Helena Barbas: “… o silêncio só é re-comendável/ Em língua de vaca fumada, ou donzela não maridada”), branqueada por expressão conjuntural da nossa própria época (Da-niel Jonas: “… abstinência apenas se aconselha/ À língua curada e à tia sem remédio”); no original inglês: “… silence is only commendable/ In a neat’s tongue dried and a maid not vendible”. D. Luís, tradutor apenas em prosa corrida, inseria o conceito de prostituição decor-rente de “vendible”, talvez dispensável no contexto matrimonial de finais do século XVI, quando a peça foi escrita, enquanto a versão de Barbas transpõe saborosas expressões portuguesas tardo-medievais /renascentistas, recurso amiúde usado por Vasco Graça Moura, ou pela equipa de Luís Miguel Cintra nas suas traduções de Shakes-peare.Mas nada mais inacabado do que a tradução (as línguas são organis-mos vivos, ao menos as de chegada, caso se parta duma língua mor-ta), debatendo-se quem a faz com alternativas e inevitáveis escolhas, talvez já não assumidas daí a pouco. Nas consabidas dificuldades de traduzir Shakespeare, objecto de não pouco estudo, a coisa agudiza-se. Daí que não resistamos a deixar outro exemplo, da mesma Cena I do I Acto (Barbas, excedendo largamente o decassílabo, numa deixa do vilão Shylock ao mercador António: “O vosso nome estava agora mesmo nas nossas bocas”; a mesma deixa segundo Daniel Jonas, contida a custo no alexandrino adoptado: “Vós éreis o último homem nas nossas bocas”). Ambas soam estranhas mas ficam ao pé da le-tra, embora haja alternativa mais livre e fluente para a versão Daniel Jonas sem violar a métrica, como “… homem de quem falámos”. In-terminável “esgrima”.
A tradução de Daniel Jonas foi editada pela Cotovia, acompanhando a estreia (16€). A tradução de Helena Barbas foi editada pela Companhia de Teatro de Almada e encontra-se à venda no Teatro Municipal de Almada, numa edição bilingue. A autora também a disponibiliza aqui: http://www2.fcsh.unl.pt/docentes/hbarbas/Textos/Mercador_Veneza_WShakesp_HBarbas.pdf .
49
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
APROXIMA-SE UM CARRO
texto Gérard Mayen
LA DANSEUSE MALADE,COREOGRAFIA DE BORIS CHARMATZ
Como pode a dança apossar-se da escrita literária dos seus artis-tas? O coreógrafo francês Boris Charmatz enfrenta esta questão, na sua nova peça, La danseuse malade. Ao fazê-lo, aguça a sua arte que consiste em ir ao encalço das forças, experiências, saberes que – precedendo-a, envolvendo-a e fundindo-a – permitem que a ideia de dança tome corpo. Através desta arte de acumulação, e do sábio atalho, Boris Charmatz baralha os limites do que julgávamos saber sobre as transacções possíveis entre dança e teatro.Fá-lo, ele mesmo, através do seu gesto em palco, ao lado da actriz Jeanne Balibar. É ela que diz vários e longos excertos de textos de Hijikata, bailarino japonês fundador do butô nos anos 50. Estes tex-tos carregam uma familiaridade halucinante com o universo maldito, uma confrontação ultrajante do tabú, uma exploração das franjas ex-tremas e dos recônditos mais obscuros da carne e da alma. Devem-se a leituras de Sade, Bataille ou Artaud. Fundam a contra-corrente absoluta da cultura japonesa dominante, em vias de ocidentalização.Não há aqui nenhum exotismo nipónico decorativo. Este butô em pa-lavras, ainda inédito no Ocidente, é aqui vertido por um tradutor en-genhoso e fascinado, Patrick Devos.A tanta aspereza, a dicção de Jeanne Balibar opõe uma secura flu-tuante, anterior a qualquer efeito de impacto, relançando constante-mente uma escuta ofegante. Trata-se de veicular esta lingua feita corpo de dança, tal como a actriz que está ao volante de um camião – pefeitamente insólito – que percorre o palco. Para Boris Charmatz, esta máquina em cena provoca uma ultrapassagem em si mesma das determinações do gesto e das intenções do autor, que arrebata e afasta toda a ideia, toda a prática, de uma dança que bem sucedida, emoldurada ou polida. O olhar do espectador é sujeito aos mesmos caos do veículo.Não é butô, evidentemente. Nem nada que se possa nomear de forma definitiva. Um carro avança.
A peça apresentou-se no Festival d’Automne à Paris, de 12 a 15 de Novembro e chega à Culturgest, Lisboa, em Maio de 2009.
© F
red
Kih
m
50
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOESPECTÁCULOS
UM ORIGINAL, NÃO UMA RECRIAÇÃO
texto Franz Anton Cramer
L'APRÈS-MIDI (D'UN FAUNE)COREOGRAFIA DE RAIMUND HOGHE
© R
osa
Fran
k
52
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOESPECTÁCULOS
Com mais este regresso a uma obra canónica, poderia dar-se o caso de sermos levados a pensar tratar-se de mais uma tentativa de re-afirmação do discurso contemporâneo, dadas as diversas remonta-gens de Sagração da Primavera, as recriações de Lago dos Cisnes, as infindáveis auto-citações de coreógrafos ou as apropriações de metodologias, inovações e avant-gardes do passado. Anne Collod trabalhou a partir dos Ballet Russes e de Anna Halprin, e Dominique Brun revelou-se uma autoridade no que respeita ao material pre-paratório usado por Olivier Dubois (ainda que, no caso de Nijinsky, Claudia Jeschke e Ann Hutchinson Guest fossem pioneiros na deci-fração da partitura de Faune). Mas, actualmente, a historiografia é, entre as disciplinas académicas, uma das mais contestadas no que respeita à dança.Contudo, na recorrente predilecção e fascínio para com a herança coreográfica, o alemão Raimund Hoghe distingue-se através da sua muito particular perspectiva. O seu universo performático é, por um lado, baseado nas partituras e, por outro, na singularidade dos inté-rpretes. É na tentativa de estabelecimento de uma ponte que torne constructiva a incompatibilidade de tudo o que é único que ele con-strói as suas peças, acabando, elas mesmas, por se tornar afirma-ções únicas. Após The Rite of Spring, Swan Lake e Boléro Variations, foi a vez de abraçar o momento fundador da dança auto-reveladora, L’aprés-midi d’un faune, de Vaclav Nijinsky, Claude Debussy and Stéphane Mallarmé.É, indistintamente este trabalho, em vez do comummente referido Sagração da Primavera (1913) que assinala o início da dança como uma arte autonomamente moderna. E é-o ainda mais para Hoghe cuja afeição por uma situação íntima – uma reservada clareira numa tarde dolente – é mais evidente, quando comparado com uma cena de ritos ancestrais e grandiloquência etnográfica, tal como é sublinhado em Sagração .Esta observação é tanto mais verdadeira quanto analisado o cenário de L’aprés-midi, estreado no sombrio Théâtre du Hangar, durante o prestigiante Montpellier Danse festival 2008, no passado mês de Junho. Esta obra-prima de uma hora, criada para a actual musa coreográfica de Hoghe, o bailarino francês Emmanuel Eggermont, faz uso de todas as ferramentas que lhe são comuns. A saber, e apenas para citar algumas: rituais minimalistas, musicalidade refinada, ex-tremo respeito tanto pelo intérprete como pelo espectador e pelo dis-positivo performático, virtuosa noção de tempo e precisão nos efeitos imagéticos.
E, no entanto, L’après-midi equilibra adulação, reconstituição e origi-nalidade. Adulação, claro, pela beleza do intérprete (literal e artisti-camente); reconstituição deste trabalho multifacetado e da sua quase mítica recepção na história; e a sua própria interpretação e apropria-ção de material simbólico e pesado enquanto peça contemporânea de dança.O espaço está, como é comum no trabalho de Hoghe, praticamente despido, mas organizado. Nada de adereços, à excepção de dois co-pos de leite que Hoghe posiciona em vários lugares. Há uma luz dis-creta (na estreia em Montpellier foi, inclusive, aproveitada a luz do dia que entrava no teatro por uma janela, insistindo num toque idílico e mediterrânico da situação). E há uma banda sonora que combina duas gravações da composição original de Debussy, outras peças de câmara deste autor, e um Lied de Gustav Mahler.É neste cenário que vemos Eggermont, deitado no chão, com os co-pos junto à sua cabeça e pés. Hoghe enche-os de leite. A partitura de Debussy será ouvida duas vezes: logo ao início, quando Eggermont se ergue através de uma cadência de nobres e subtis movimentos, como se explorasse o espaço numa clarividência onírica.Ele enche este espaço lírico e esta estrutura musical com a sua pre-sença. É neste estado encantado que Eggermont permite o surgi-mento de memórias e alusões ao seu famoso predecessor. A per-sona de Nijinsky – envolvida numa aura erótica – transformou a peça num escândalo aquando da sua estreia, em 1912, mas também deu à dança um outro nível de auto-confiança. Eggermont e Hoghe estão bem cientes destas sombras sensuais e, ao longo das cinco partes de L’après-midi, o leite vai-se tornando, cada vez mais, um símbolo icónico. E quando é espalhado pelo chão negro, já mais perto do fim, não serão desajustadas algumas associações explícitas aos momen-tos finais do trabalho original – a imagem de Nijinsky enquanto fauno que copula com o objecto fetichizado, o lenço da ninfa no qual havia tocado apenas uma vez, com o ombro no antebraço dela, durante a coreografia de doze minutos.Eggermont é um soberbo presente quando se quer construir um uni-verso de gestos meditativos que, no entanto, estão mergulhados numa suavidade Art nouveau, tal como contêm formas contemporâneas de reflexividade. As disposições corporais, como se fossem baixos-relevos, que marcam a inventividade coreográfica de Nijinsky, estão tão presentes quanto hoje em qualquer composição de reduzidos mo-vimentos contemporâneos.Tanto assim é que, com este movimento escultórico e angular, Hoghe traça uma linha com o passado, ao qual se acrescenta contrapeso musical, garantindo que pesquisa gestual é mais do que uma remontagem de L’après-midi.
Leia na OBSCENA #15 a crítica a Parades & Changes, Replay, de Anne Collod, e Faune(s) de Olivier DuboisLeia na OBSCENA #9 um ensaio de Franz Anton Cramer sobre Raimund Hoghe, focado em Swan Lake – 4 acts, apresentado em Fevereiro deste ano na Culturgest, Lisboa.
O autor refere-se à famosa sequência central de Sagração da Primavera, onde uma bailarina representa uma virgem que será sacrificada para contentamento dos deuses.
53
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
A PATINE HÍBRIDA DO TEMPO
texto Florent Delval
GOING TO THE MARKET, TWO DRAWINGS e MY FATHER'S DIARYPERFORMANCES DE GUY DE CONTET
Na sala do Museo de Arte Contemporanea de Barcelona, aquando da memorável exposição Un teatre sense teatre (recenseada na OBSCENA#6), estavam dispostos sobre um estrado diversos volumes geométricos simples, alguns de cores vivas, a maior parte pretos e brancos ou descorados : jogos infantis no limite da abstracção. Aqui, a alvura do fundo, que faz pensar num museu, induz em erro : não nos apercebemos imediatamente de que se trata de um cenário, certa-mente vazio, mas ainda assim de um cenário. Uma vitrine, colocada de lado, lembra, todavia, que os três assentos brancos receberam vai para três décadas actrizes que activavam esses objectos crípticos. Algum tempo antes a galeria Air de Paris apresentava uma série de « objectos cénicos » fora de qualquer contexto performativo.Depois de algum tempo as obras do artista pop francês Guy De Cointet ganham vida e será suficiente assistir a qualquer uma das suas per-formances para se ter uma ideia do que foi o seu trabalho. De facto, no centro encontramos um dispositivo repetidas vezes recusado: face a uma pintura, que apresenta uma rede complexa de números e letras ou está rodeada de objectos indefinidos, os actores (a maior parte das vezes actrizes) interpretam um texto mais ou menos relacionado com um objecto plástico situado no centro da cena ; o mesmo objecto pode ser o centro de performances diferentes.A forma híbrida criada por Guy de Cointet é, como todos os monstros, única no seu género e é o que lhe permite um certo reconhecimento tardio (e póstumo, pois faleceu em 1983). Ao contrário de Jiri Kovan-da, cujas performances eram discretas e passaram despercebidas na Checoslováquia comunista, tendo sido recentemente o Graal de alguns curadores, Guy de Cointent gozou no ano passado de uma plé-tora de artigos e foi o centro de todas as atenções.Na sua primeira edição, o festival Playground acolheu Tell Me, uma peça de 1979, antes de reiterar a sua aposta com mais três peças
curtas este ano: Going To The Market, Two Drawings e My Father’s Diary de 1977. Para o que era apresentado mais ou menos como um evento histórico, a pequena sala do Stuck estava longe de estar cheia : a segunda vida de Guy de Cointet é, acima de tudo, mediática. Encur-ralado entre duas grandes categorias institucionais, a sua obra faz parte daquelas obras dificilmente apresentáveis pela dificuldade de activação de certos mecanismos fundamentais : quando utilizados fora das performances, os objectos de De Cointet parecem feitos de linhas ou fantasmas incompletos.Como as suas obras circulam independentemente dos diferentes regimes de apresentação (performances, esculturas, instalações) poderíamos compará-las às de Mike Kelley ou Paul McCarthy. Mas contrariamente a estas, as mudanças de cenário não têm que ver com o esgotamento e a reciclagem infinita dos materiais e dos símbolos. Estaria mais próximo de Cadere, cujas bengalas coloridas mais pare-cem relíquias inacabadas e mórbidas depois do desaparecimento do seu criador que as carrega ao ombro nas suas deambulações. Mas o que falta, em De Cointet é a parte integrante da obra, onde o discurso dos intérpretes tropeça no hermetismo dos objectos, essas imagens irrepreensíveis sobre as quais nada é garantido.Os textos serão eminentemente teatrais, mas permanecem como narrações, histórias dirigidas ao público. Também são materiais mais maleáveis, sem limite físico, contrariamente às obras imutáveis que ao longo da performance ganham um peso que as torna praticamente monolíticas. Esta presença, por vezes extremamente concreta e ir-real da obra, é a verdadeira especificidade das obras de De Cointet que não está somente nas margens da sua época, mas é praticamente diferente das formas espectaculares da contemporaneidade. De fac-to, se esta palavra paira livremente sobre o objecto sem o alterar e é o contrário absoluto da body art ou dos herdeiros do happening, onde o fim último é gesto imoderado ou o desperdício, também não pode ser assimilada pelas estéticas que foram veiculadas nos anos 90 onde o objecto deveria esgotar-se, e o seu uso racionalizar-se, de modo a evitar qualquer efeito de “decoração”.É o paradoxo de De Cointet: dificilmente se associa à época da qual provém, mas também não é totalmente síncrono com a nossa.
As obras de Guy de Cointet apresentaram-se de 5 a 7 de Novembro. Para mais informações sobre o festival Playground consulte www.playgroundfestival.be
Para saber mais recomendamos-lhe a leitura das revistas Art Press 282, setembro 2002, Revue 20/27 n°1, 2007
54
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOESPECTÁCULOS
patrocinador estrutura financiada Classificação:
M16 Entrada livre sujeita a lotação da sala
promotores:
contactos: [email protected] . comediasdominho.blogspot.com . www.comediasdominho.com . tel. 251 780 125
encenação e adaptação: Pedro Penim. assistência de encenação: José Nunesinterpretação: Gonçalo Fonseca, Luís Filipe Silva, Mónica Tavares, Rui Mendonça e Tânia Almeida
2008 .
valença › [12 Nov., 21h30 › auditório de verdoejo] [13 Nov., 21h30 › escola superior de ciências empresariais]
[14 Nov., 21h30 › biblioteca municipal de valença] [15 Nov., 21h30 › junta de freguesia de s. pedro da torre]
[16 Nov., 16h30 vila nova de cerveira › [19 Nov., 21h30 › junta de freguesia de nogueira]
[20 Nov., 21h30 › junta de freguesia de loivo] [21 Nov., 21h30 › cine-teatro de v. n. cerveira ]
[22 Nov., 21h30 › junta de freguesia de mentrestido] [23 Nov., 15h00 › junta de freguesia de reboreda]
paredes de coura › [26 Nov., 21h30 › sede da ass. cultural de mozelos] [27 Nov., 21h30 › centro cultural]
[28 Nov., 21h30 › centro cultural] [29 Nov., 21h30 › sede da junta de freguesia de agualonga]
[30 Nov., 21h30 melgaço › [3 Dez., 21h30 › junta de freguesia de penso]
[4 Dez., 21h00 › junta de freguesia de parada do monte] [5 Dez., 21h30 › casa da cultura de melgaço]
[6 Dez., 21h30 › casa da cultura de melgaço] [7 Dez., 21h00 › centro civico de castro laboreiro]
monção › [10 Dez., 21h30 › eprami – escola profissional de monção] [11 Dez., 21h30 › escola básica e integrada de tangil]
[12 Dez., 21h30 › junta de freguesia de ceivães] [13 Dez., 21h30 › casa do povo de barbeita] [14 Dez., 16h00 › casa do curro de monção]
225 ANOS DO TEATRO MARIINSKY EM BERLIM
BERLIM - SÃO PETERSBURGO
texto João Carneiro
© R
iede
r P
rom
otio
ns
56
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOESPECTÁCULOS
Enquanto as obras continuam, o Teatro Mariinsky, de São Petersburgo, percorre o mundo com pro-gramas intensos. No inicio de Outubro foi a vez da Deustche Oper, em Berlim, receber cinco óperas e dois bailados. Uma oportunidade rara para entrar a sério no universo criativo da mais prestigiada com-panhia de ópera e ballet do mundo.
O Teatro Mariinsky, de São Petersburgo comemora 225 anos em 2008. O número pode parecer menos evidente que 200, ou 250, no que diz respeito a motivos de celebração. Mas 200 é passado, 250 fica à dis-tância de 25 anos. É muito tempo para Valery Gergiev, maestro e di-rector artístico do teatro. As oportunidades são sempre boas para fazer qualquer coisa que possa beneficiar o teatro a que Gergiev parece ter devotado o tempo, a energia e o talento, coisas que possui em abundância, mas que estão longe de ser demais para manobrar com sucesso um barco cuja direcção se afigura das mais difíceis.O Mariinsky recuperou o nome que tinha antes do regime soviético, mas o ballet continua a ser, principalmente no estrangeiro, mais conhecido por Kirov – o presidente da câmara de Leninegrado cujo nome ficou assim aureolado de um prestígio invejável.Seja como for, gerir um teatro que tem residentes uma orquestra, uma companhia de ópera e uma companhia de ballet, num país onde a vida política, administrativa e económica é das mais agitadas, colocar toda esta estrutura no mapa das grandes companhias internacionais, estar à altura de um prestígio justificado em vários aspectos – tudo isto a partir de uma actividade essencialmente e intrinsecamente artística, escapando às conotações menos simpáticas que ensom-bram grande parte da Rússia actual, faz da vida de Gergiev e da activi-dade do Mariinsky um caso particular da cena artística mundial.As tournées servem, no caso do Mariinsky, quer para sedimentar a credibilidade artística do teatro, quer para angariar fundos de que a instituição necessita em permanência. Sob a orientação de Gergiev, a companhia procura mostrar um panorama tão diverso quanto pos-sível das suas possibilidades. Assim, durante a estadia na Deutsche Oper, em Berlim, o Mariinsky apresentou três óperas e dois bailados – cinco programas diferentes, duas vezes cada produção. O tour de force valia a pena: Khovanschina, de Mussorgsky, A Dama de Espadas, de Tchaikovsky, O Nariz, de Shostakovitsch, quanto a óperas; O Lago
dos Cisnes e Le Corsaire, nos ballets. Tudo isto entre 30 de Setembro e 8 de Outubro, sem contar com uma gala dirigida por Gergiev, que também dirigiu a orquestra em todas as representações de ópera.
As óperasAs três óperas escolhidas são exemplos maiores da criação operística russa. Khovanschina teve a sua primeira apresentação em 1886, em são Petersburgo, e nunca chegou a ser terminada por Mussorgsky. Tal como Boris Godunov, também Rimsky- Korsakov produziu uma versão da ópera. Contudo, a escolha de Gergiev foi para a versão de Shostakovitsch, considerada mais próxima da letra e do espírito daquilo que Mussorgsky deixou. É uma ópera difícil, complexa, não tanto na sua recepção imediata – a música é extraordinária, e a estru-tura dramático-musical é susceptível de prender a atenção desde o primeiro momento. A complexidade reside, antes de mais, na manei-ra de apresentar o conflito, uma questão de confronto político e reli-gioso passada durante a segunda metade do século dezassete. Como todas as grandes obras, Khovanschina descreve problemas perante os quais somos levados a reflectir muito para além – ou muito antes, sequer – de pensarmos em resoluções. Como muitas obras da litera-tura russa, aliás, é uma obra sobre inquietações espirituais e morais, cruzadas com questões de poder e de comportamentos sociais, políti-cos e individuais.Do ponto de vista da execução, foi de longe a mais conseguida das três óperas. Gergiev estava aparentemente como peixe na água, a relação entre orquestra e cantores era praticamente perfeita, a encenação de Yuri Alexandrov a mais equlibrada na relação entre o canto, mo-vimentação e representação. Os cenários, de Vjatscheslav Okunev, apontando para uma tradição realista, quase popular, serviam parti-cularmente bem uma ópera que, recuperando materiais russos, tanto na temática narrativa como na arquitectura musical, radicando inteli-
57
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
das potencialidades da história e da interpretação, estão em jogo a extraordinária coreografia original de Petipa e esse inacreditável animal que é a companhia de ballet do Mariinsky, o Kirov. É evidente que a qualidade dos solistas é indiscutível, mas é verdade que entre solistas e corpo de baile existe uma continuidade e uma coerência que desconhecemos em quase todas as outras companhias – o bal-let da ópera de Paris é, a este respeito, uma das poucas excepções. Trata-se de uma companhia cujos membros provêm de uma mesma escola, solistas ou não; em que os professores são antigos bailarinos e bailarinas, que dirigem e orientam os jovens artistas na criação de papéis e de personagens de que eles, professores, têm, frequente-mente, conhecimento directo. Este tipo de circuito fechado, se pode travar influências por vezes saudáveis, é garantia de uma fortíssima coesão artística e técnica. Petipa, trinta e cinco anos com o ballet em S. Petersburgo, foi deci-sivo na elaboração de uma lógica estruturante para a dança clássica; Fokine, depois dele, aprofundou a necessidade de fundir, nas suas próprias palavras “música, pintura, artes plásticas”, num conjunto dominado pela harmonia, de tal modo que, para Balanchine – um produto também da escola do Mariinsky – Fokine “inventou o conjunto no ballet”. Depois da influência de Agrippina Vaganova, que reuniu o melhor que a Rússia possuía na tradição do ballet e organizou um corpus didáctico coerente cuja influência vem até hoje, o Kirov parece apostado em mostrar até que ponto aquilo que os seus bailarinos fazem é o resultado de um trabalho sobre as “possibilidades naturais do corpo humano”, como sugere outra representante da escola do Mariinsky, Natalia Makarova.
Os intérpretesCuriosamente, os bailarinos da companhia não são máquinas, nem procuram ser. A sua extraordinária competência técnica não rasura a individualidade do intérprete, e este aspecto nunca é tão evidente como no caso do corpo de baile. É justamente no caso em que o con-junto é mais importante, ou mais evidente, em que o efeito de con-junto parece o resultado de uma reprodução de dezenas de figuras iguais, que a individualidade de cada membro continua a ser impor-tante, na maneira como cada um realiza a mesma figura que o baila-rino ou a bailarina que está ao seu lado. Aklina Somiowa pode ser, e é, absolutamente perfeita no papel de Odette-Odile, no Lago dos Cisnes; Andrei Iwanow pode ser, e é, assombroso de virtuosismo no papel de bobo, no mesmo ballet; são, contudo e sempre, intérpretes em que a dimensão humana não é escondida, em que as limitações são naturais; simplesmente, são capazes de fazer certas coisas me-lhor do que outros. E o corpo de baile é tanto um eco dos solistas, quanto estes são como que uma parte de um conjunto de que nunca se separam completamente. Finalmente, o grau superlativo da interpretação de o Lago dos Cisnes pelo Kirov vem recolocar a questão da dança clássica como lugar privilegiado de articulação entre dança narrativa e dança enquanto movimento puro, abstracção cinética criada pelo corpo humano. Que a relação do movimento com a música seja, como no caso dos ballets com música de Tschaikovsky, um caso de dramaturgia tão relevante e original como o da ópera, investe o ballet de uma estranheza forte-mente contemporânea e de um fascínio incontornável.
John Ardoin, Valery gergiev and the Kirov – a history of survival, Amadeus Press, Portland, Oregon, 2001, pp. 212Ardoin, op. cit., pp. 138; Ardoin, op. cit., pp. 138; Ardoin, op. cit., pp. 65
gentemente naquilo que é local, ultrapassa qualquer tipo de pitoresco para se situar no plano das grandes criações artísticas globais. Já O Nariz, de Shostakovitsch, se bem que servido por um conjunto de cantores de grande segurança, sofreu de vários desequilíbrios. A direcção de Gergiev não evitou a passagem da intensidade a uma es-pécie de brutalidade musical que nem sempre o maestro consegue, ou quer, evitar. A cenografia, de tendências citacionais vagamente modernistas, era pretensiosa e espalhafatosa. A direcção cénica foi, com frequência, penosa, a dimensão teatral do espectáculo parecia, por vezes, não ultrapassar o simples amadorismo. Alguns destes problemas afectaram ainda a representação da A Dama de Espadas, de Tschaikovsky, com libreto baseado no conto homónimo de Gogol, sujeito a algumas alterações, mais importantes no final da ópera do que durante o decurso da acção – na novela as personagens de Liza e de Hermann não morrem, na ópera suicidam-se. O grupo de cantores era notável, nomeadamente o Hermann de Maxim Axenov e a Polina de Jekaterina Sementschuk. Mais uma vez, cenários e direcção de ac-tores estavam muito aquém das vozes, da competência da orquestra – é notável a precisão e correcção musical em todas as representações, num repertório cujas dificuldades de execução são à medida do gi-gantismo das obras. Mais uma vez, ainda, a orquestra soba a direcção de Gergiev era levada a extremos de intensidade que se arriscavam, desnecessariamente, a passar por barulho.
O BalletJá com o bailado as coisas são substancialmente diferentes. John Ardoin, no seu livro Valery Gergiev and the Kirov – a history of survival, refere um desabafo do maestro, supostamente depois de as-sistir a uma representação de D. Carlos, de Verdi, na encenação de Visconti, e a uma representação de Otello, também de Verdi, dirigida por Carlos Kleiber. ‘O que é que eles têm que nós temos? O que é necessário para elevar o Kirov a um nível internacional? E percebi que nos falta uma tradição cénica forte’.É verdade que essa falha se faz sentir com frequência na ópera. Mas no ballet tudo parece fazer parte de um edifício invulgarmente coe-rente. Le Corsaire é um caso exemplar. Trata-se de um ballet baseado muito livremente num poema de Byron, cuja música é um conjunto de retalhos e cuja eficácia temos todas as razões para desconfiar. Basi-camente, trata-se de uma história de piratas e escravas – Conrad, Ali e Birbanto atirados à praia depois de um naufrágio; salvos por Medora e Gulnare; elas são feitas escravas pelos turcos; são salvas, depois, por Conrad, Ali e Birbanto; voltam a ser presas, e os piratas engana-dos; são novamente salvas, e, de barco, partem com os queridos pi-ratas rumo a novas aventuras. Pelo meio temos direito à exibição de Lankedem o mercador de escravas: sempre que as raparigas são fei-tas prisioneiras, Lankedem organiza faustosos espectáculos para as apresentar aos clientes ricos. Para além de uma intrigante plasticidade dos conteúdos narrativos – Lankedem, organizando apresentações da sua mercadoria sob a forma de quadros em que o melhor da coreografia é rentabilizado, parece-se, curiosa e intrigantemente, com um encenador- produtor que apresenta os seus espectáculos a potenciais compradores. Que Lankedem também seja negociante de escravas, e que os clientes comprem as raparigas convencidos pelo espectáculo, parece uma ideia, hoje, no mínimo ousada. Que as raparigas pareçam esquecer os seus infortúnios enquanto dançam para os velhos ricos, e que acabem por ser salvas por uns outsiders, assemelha-se fortemente à arenga corrente sobre mainstream e marginália. Mas, para além
59
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOESPECTÁCULOS
HISTÓRIA DE UMA FORMAÇÃO
texto António Quadros Ferro
BESTAS DE LUGAR NENHUM,DE UZODINMA IWEALA
Deixemo-nos de literaturas: a criança-soldado que sangra este livro
é filha de cada um de nós.
José Amaro Dionísio
Dentro da boa literatura existe aquela da qual lembramos apenas um silêncio. (Os maus livros normalmente não nos vêem à memória, não são sequer silêncio e serão, na sua grande maioria, menos que Lite-ratura). Bestas de Lugar Nenhum de Uzodinma Iweala, (EUA, 1984) publicado em Outubro de 2008 pela Antígona, editores refractários, com tradução de Carla da Silva Pereira, é um desses raríssimos exemplos onde a realidade das coisas não é refúgio para aquilo que acabámos de ler. Falo do modo como se sentem as palavras de Adu na escrita de Iweala, no corpo da criança engolida em óleo de arma para afastar os fantasmas e se retirar a si da morte, (drogada com o medo, drogada com a própria morte, drogada por ser só uma criança e não ser ainda mais que isso e lutando já, como os adultos, pela sua dose de veneno), falo da noite e do campo de batalha que percorre rindo, segurando a espingarda, da criança que mata e enlouquece a sua inocência o mais depressa que pode, e falo do silêncio-esquecimento que atravessa esta história, e outras suas semelhantes, onde o mais difícil, como se sabe, é escolher as palavras, o modo de empregar o horror: “(O
Comandante) agarra na minha mão e abaixa com muita força na cabeça do inimigo. Sinto como que choque eléctrico no corpo todo. O homem grita AIIIII mais alto que assobio de bala, e depois mete mão na cabeça, mas não vale nada porque cabeça racha e deita sangue como coco deita leite (..) E então dou no ombro dele e depois no peito dele, e reparo que o Comandante sorri cada vez que a minha faca acerta no homem. O Strika junta a mim e a gente dois batemos e da-mos com a faca enquanto outros riem. Parece que mundo gira muito devagarinho e eu vejo cada gota de sangue e cada pingo de suor que voa para aqui e para ali. Ouço pássaro que batem asas e levantam voo das árvores. Parece trovoada.”O modo de empregar o horror, Iweala consegue-o quase sempre nes-tas páginas. Coloca-nos, do início ao fim, no lugar certo, na cabeça de uma criança; a forma pura do começo em qualquer situação. Mas aqui, tudo é exageradamente contrário ao nascimento. Bestas de Lu-gar Nenhum é em certa medida uma história de formação, mas onde o percurso se faz ao contrário, no sentido da decadência, da destruição, da morte. Porque a morte é contínua, substantiva: auto-consciente.
60
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOLIVROS
OS PÁSSAROS CONTINUAM A CANTAR
Nine finger não é um espectáculo triste nem desesperante, até va-mos ouvindo o canto dos pássaros, pois estes pouco querem saber da guerra ou dos massacres e continuam a cantar dia e noite para a Terra que, mesmo assassina, sobreviverá a todas as atrocidades que os homens serão capazes de inventar. Mas se quiserem apenas pas--sar uma noite agradável, sozinhos ou entre amigos; se pensam que é mais confortável não ver e saber o que se passa no mundo de hoje; se detestam serem arrebatados por um espectáculo, fica um conselho: sobretudo, não vejam Nine finger de fumiyoikedaalainplatelbenja-minverdonck . Excerto da crítica de Jean-Marc Adolphe publicada na OBSCENA #11/12
Não termina. É uma essência viva, rápida e ininterrupta como a loucura. Tem o tempo de uma guerra, mas ultrapassa-a. Diz respeito a todos. Porque este não-lugar, que ninguém quer ver, é habitado por gente, é a nossa loucura que vemos nestas páginas e não há como não nos reconhecermos nela: “(…)Estou sentado na rede e ouço que ele vem para mim. Tira a minha roupa e depois senta ao meu lado, com respiração difícil (…) Encolho a língua dentro da boca porque tenho medo de arrancar ela à dentada para aguentar com dor. (…) Ele mete mão na minha nuca e custa engolir. Ele olha para as minhas cos-tas, e sinto olhos dele para cima e para baixo no meu corpo nu. Sinto olhar dele que rasteja na pele como muita formiga junta a andar as-sim devagarinho na terra e a comer o mundo inteiro aos bocadinhos (…) Começam a correr lágrimas pela minha cara abaixo e misturam com cuspo na almofada. Quero dizer a ele que não posso lutar mais já, que a minha cabeça está a ficar podre, como parte de dentro da fruta”. Em Bestas de Lugar Nenhum estamos, desde o início, perante esta descoberta: Adu é algo em que Adu se vai tornando, desde a epígrafe, (“Esta insurreição vai despertar a besta em nós”) de Fela Kuti, às pa-lavras de Iweala (“É um exercício, uma experiência, é verdadeira e autenticamente uma tentativa de capturar múltiplas vidas de sofri-mento em pouco mais de cem páginas.”), até à sensação, no final, de que bestas somos todos. O texto é escrito com recurso a uma linguagem invulgar, sonora em todas as suas variações, em boa parte devido à utilização do pidgin nigeriano, mas também à forma violenta como Iweala, inspirado em autores como Amus Tutuola, representa vocalmente a história san-grenta de Adu. Esteve no palco com o mesmo silêncio de murro no es-tômago em 2007, com uma adaptação de Benjamin Verdonck, Fumiyo Ikeda e Alain Platel em Nine Finger, apresentado no Alkantara Festi-val em Junho passado (na foto, DR). Recebeu, entre outras distinções, o prémio Sue Kaufman da Academia Americana de Artes e Letras e um destaque na revista Granta. Bestas de Lugar Nenhum, o livro de estreia de Uzodinma Iweala, que impressionou Salman Rushdie, e que Eduardo Agualusa sugeriu que fosse traduzido para português, é se-guramente, aquilo que este jovem escritor norte-americano desejava: um tributo àqueles que muito sofreram nas mãos do abuso directo e da negligencia internacional (€XX).
Leia na OBSCENA 11/12 o texto de Jean-Marc Adolphe a propósito da peça Nine Finger.Ouça o autor a ler um excerto da obra: http://www.kwls.org/lit/kwls_blog/2008/07/uzod-inma_iweala_2008beasts_of.cfm
61
No curto texto intitulado Ao Leitor, que serve de introdução ao livro Lions and Shadows, Christopher Isherwood escreve, a certa altura do terceiro e último parágrafo: “Leia-o como um romance”. Refere-se ao livro em questão, claro está. E a afirmação tem uma razão de ser, descrita umas linhas antes, no primeiro parágrafo: “É melhor começar por dizer o que este livro não é: não é, no sentido jornalístico habitual da palavra, uma autobiografia; não contém ‘revelações’; nunca é ‘in-discreto’; nem sequer é inteiramente ‘verdadeiro’.”Toda esta página é um extraordinário fragmento literário. Não apenas pelo estilo, preciso, cuidado, elegante, o que é sempre o caso de Isherwood. Mas, e principalmente, porque nos situa de imediato num terreno que, neste e noutros livros do autor, não nos vai abando-nar mais: o que é que estamos a ler? Não é uma autobiografia, diz-nos Isherwood, apesar de a personagem central, quem escreve coisas sobre si próprio, se chamar Christopher Isherwood; não é uma autobiografia porque não faz “revelações”, não é “indiscreto”, e nem sequer “verdadeiro”. Qualquer leitor rapi-damente se dá conta de que nenhum destes predicados conta para a questão “autobiografia”. Não ser indiscreto nem fazer revelações conta, sim, mas como estilo – “O estilo é o homem”, diz também o nosso autor, noutro passo. Sorte a nossa estarmos livres de “reve-lações” e de “indiscrições” (coisas jornalísticas, fomos avisados logo no início). Nem tudo é verdadeiro? Outro aspecto que não nos poderia interessar menos. Acreditamos ou não naquilo que lemos, e isso sim, é que interessa. Fortalecidos, quase sem darmos por isso, pelas sábias palavras do texto Ao Leitor, estamos mais bem preparados para entrar no resto do livro; mas, de facto, já lá estamos. Estamos no livro que temos entre as mãos, e estamos nos outros livros de Isherwood. Estamos num terreno em que a ficção é feita de coisas que parecem verdadei-ras, apenas porque acreditamos nelas, porque são verosímeis. Pare-cem verdadeiras, e são verosímeis porque queremos que assim seja. Grande parte do extraordinário talento de Christopher Isherwood está, justamente, em fazer coincidir verosimilhança com vontade de acreditar. A força destes escritos, ficcionais ou autobiográficos, está no facto de não fazerem ‘revelações’ nem serem ‘indiscretos’. Revelações e indiscrições são aqui eufemismos para grosseria; mas são também aquilo que não permite a sugestão, a abertura para um mundo infinito de possibilidades, que é aquilo de que gostamos nos livros.
A recente encenação de Cabaret tem na sua origem não apenas o filme de Bob Fosse ou o de Fred Ebb e John Kander mas também dois livros de Christopher Isherwood que não são meras descrições de Berlim.
Numa altura em que Cabaret é apresentado num teatro de Lisboa, e qualquer que seja a opinião que se tenha sobre o espectáculo, vale a pena referir, uma vez mais, a particular qualidade da peça, que decor-re da música, do texto, e de uma estrutura literária, dramatúrgica, ficcional, que resiste à maior parte das realizações cénicas do texto.A história e as personagens da peça vêm, essencialmente, de dois livros: Mr. Norris Changes Trains (1935) e Goodbye to Berlin (1939). O primeiro é escrito como um romance tradicional, começando com um encontro entre o narrador, Clifford Bradshaw, e um tal Arthur Norris, num comboio que os vai levar à Alemanha, e a Berlim.Mr. Norris Changes Trains passa-se numa Berlim em que a sombra do nazismo está sempre presente, mas onde as pessoas se divertem numa espécie de aventura permanente entre Cabarets, reuniões do partido comunista, encontros à tarde para cafés. Nada especialmente grandioso, tudo num registo quase doméstico, ou melhor, pessoal, privado. É um livro sobre relações entre pessoas aparentemente normais, com empregos insignificantes e muitas vezes sem dinheiro nenhum. Mas como podem ser fascinantes a descrição e recriação das existências normais feitas pela literatura! Mr. Norris Changes Trains é um livro feito de encontros e desencontros, feito principal-mente de momentos de separação. As personagens desaparecem de vez em quando, acabam por reaparecer, até ao momento em que se vão realmente embora: Arthur Norris vai desaparecendo a partir de postais cada vez mais espaçados, que recriam em cada vez menos linhas tudo aquilo que se foi passando em Berlim ao longo do ro-mance. Fraulein Schroeder, a quem o narrador aluga um quarto, está sempre à beira de se separar dos hóspedes, última esperança de uma vida normal. E Otto, o rapaz proletário que circula em todos os meios, que vive um tempo com Anni, que é amigo do narrador e de quem o narrador é amigo, personagem chave a partir da qual se pode inferir um mundo infindável de sentimentos, de revelações e de indiscrições, que não sendo feitas, alimentam a imaginação e percorrem a mais ex-traordinária das descrições, também desaparece: “Otto virou-se uma vez para olhar para trás. Acenou com a mão, com vivacidade, e sorriu. Depois enfiou as mãos nos bolsos, arqueou os ombros e afastou-se rapidamente, com o movimento pesado e ágil de um boxeur, pela rua escura abaixo em direcção à praça iluminada, para se perder por en-tre a multidão sem rumo dos seus inimigos. Nunca mais o vi ou tive notícias dele.”.
63
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
Apesar desta descrição, tão elegante quanto pungente, Otto regressa no livro Goodbye to Berlin. São seis partes, das quais a primeira e a última têm o mesmo título, A Berlin Diary; outono de 1930, a primei-ra, Inverno de 1932 – 33, a última. Pelo meio as secções chamam-se Sally Bowles, On Ruegen Island (Summer 1931), The Nowaks e The Landauers. É uma organização impressionante de subtileza, constru-indo uma narrativa global que parece ser um conjunto de episódios soltos, fruto de memórias e de uma vida numa cidade durante cerca de dois anos – o que também é verdade.Otto aparece em On Ruegen Island, onde passam férias o narrador – Christopher, herr Issivo, como lhe chama a sua locatária, a nossa já conhecida Fraulein Scroeder - e, entre outras pessoas, Peter Wilkin-son, um inglês, e Otto Nowak, “um rapaz alemão da classe operária de Berlim”, com dezasseis ou dezassete anos. Nunca nada é dito sobre o carácter da relação entre Peter e Otto, a não ser sobre as discussões, geralmente motivadas pela tendência de Otto para sair e ir dançar com raparigas que o não largam, e a que Otto dificilmente resiste. Um dia Otto desaparece, e Peter acaba por ir embora, desolado e despon-tado. Sozinho, o nosso Christopher parte também: “…de repente, o lugar parece tão solitário. Sinto a falta de Peter e de Otto, e das suas discussões quotidianas, muito mais do que poderia ter suspeitado. E agora as companheiras de dança de Otto deixaram de passear triste-mente ao por do sol, debaixo da minha janela.”No capítulo seguinte, Christopher aluga um quarto em casa dos Nowak (pai, mãe, Otto e os irmãos), numa zona pobre da cidade. Sobre uma possível relação sentimental entre os dois, nada é dito, Em vez disso, e num extraordinário exercício de elipse, Christopher vai conhecer a vida da cidade a partir de Otto, da sua família, dos seus amigos – um ponto de vista proletário. E logo a seguir, The Landauers, descreve a vida de uma família rica e judia, cuja filha é aluna de Christopher. Existe, é claro, uma secção intitulada Sally Bowles, a mesma, pelo menos com mesmo nome, que figura em Cabaret. No livro ela canta no Lady Windermere, um bar “informal” e de tendências artísticas, perto da Tauentzeinstrasse “cujo proprietário tinha, com toda a evi-dência, tentado tornar tão parecido quanto possível com Montpar-nasse.”.Sally canta mal e sem expressão, mas é atraente e tem o seu público. A descrição da personagem e da relação entre o narrador e Sally é um prodígio de caracterização e de uma espécie de sentimentalismo contido pela elegância do estilo. A ironia nunca é cáustica, mas sim afável; quando Sally pergunta a Christopher se ele acredita nela, ele responde “Bom..tenho a certeza que vais ter imenso sucesso em qualquer coisa – só que não sei bem em quê… quer dizer, há tantas coisas que podias fazer se tentasses, não há?”.Como não podia deixar de ser, a relação termina com uma separação, postais cada vez mais raros, e uma declaração cuja força emocional só tem paralelo na contenção estilística. Depois de seis anos sem notícias, Christopher escreve, no fim do capítulo: “Por isso estou a escrever isto para ela. Quando leres isto, Sally – se alguma vez o fize-res – por favor, aceita-o como um tributo, o mais sincero que posso fazer, a ti e à nossa amizade. E envia-me outro postal.”
Os dois contos estão reunidos num só volume, que incluem outras histórias, intitulado The Berlin Novels (Vintage, 9,20€)
64
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOLIVROS
ASSINATURA
Quero assinar a OBSCENA pelo período de 1 ano no valor de 25€ + portes de envio (6€) e receber gratuitamente a edição especial anual da TEAM Network.
€€
€€
#1 -
fev.
07
#2 -
mar
.07
#3 -
abr.0
7
#4 -
mai
.07
#5 -
jun/
jul.0
7
#6 -
out.0
7
#7 -
nov.
07
#8 -
dez/
jan.
07
#9 -
fev.
08
#10
- mar
.08
#11/
12 -
abr/
mai
.08
#13/
14 -
jun/
jul.0
8
#15
- out
.08
PODEM ENTRAR, É INOFENSIVO!
texto Tiago Bartolomeu Costa
CABARET,ENCENAÇÃO DE DIOGO INFANTE
66
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZOESPECTÁCULOS
O risco, grande dadas as referências colectivas, os custos, necessaria-mente elevados dados os constrangimentos de contrato internacio-nal de produção, e a pressão mediática a que se sujeita, são razões mais do que suficientes para que uma encenação contemporânea de um musical como Cabaret, originalmente estreado em 1966, seja en-tendida como um objecto demasiado sério e menos efusivo do que se pretende. Por consequência, qualquer leitura, mais ou menos ideológica ou mais ou menos manietada por visões extra-espectáculo deve ter em conta que não pode apenas ser o desejo feérico a susten-tar a escolha de o encenar. É verdade que a encenação de Diogo Infante, porque se inspira mais no guião do musical de John Kander e Fred Ebb que no filme de Bob Fosse (1972), regressando assim a uma origem também ela já ob-jecto de filtragem dramatúrgica (a peça I am a camera, de John Van Druten e as histórias Goodbye to Berlin e Mr. Norris Changes Trains, de Christopher Isherwood), sobrevive à maior parte dos preconceitos que se possam ter com a escolha. Até mesmo os momentos menos felizes – sobretudo vindos da coreografia (Marco de Camillis) que disfarça mal o modelo cinematográfico e por isso é medíocre na sua estruturação e pouco consciente das potencialidades dramáticas dos corpos das personagens errantes que vivem no Kit Kat Klub -, resis-tem perante a energia da peça, entusiasmante e, se sem grandes ras-gos, mantida ao longo das duas horas e quinze minutos de duração. Uma das suas principais mais valias é o facto de não ser demasiada-mente feérica (há mesmo um sentido de tragédia, poderíamos dizer maquilhado com produtos de terceira, o que dá a tudo uma irresistível patine) e ser surpreendentemente consciente das dimensões queer de algumas das histórias. A datação da peça, e das histórias, cria um tempo cénico e teatral particular que não parece querer inscrever-se no tempo no qual se apresenta. O que liberta a peça de uma ambição desmedida e a transforma num exercício meramente teatral (razão última para a sua remontagem) que permite distinguir o bom (os jo-gos entre o Mestre de Cerimónias/ Henrique Feist e o corpo de baile) e o péssimo (a cena final simulando uma câmara de gás)Ao ser obrigado a conceber outras soluções que garantam, pelo menos, um desenvolvimento narrativo autónomo da linguagem im-positiva do cinema - mas nunca escondendo o desejo de multiplica-ção de cenários, apressando algumas mutações e repetindo outras que carregam em demasia, sobretudo nas mais breves, o tempo de construção espacial das cenas, fechando-as em micro-narrativas -, Diogo Infante gere várias fontes dramatúrgicas tentando libertar-se do filme e da peça, o que, invariavelmente desbarata situações segu-ras, como o triângulo Sally Bowles/ Ana Lúcia Palminha, Cliff Brad-shaw/ Pedro Laginha e Ernst Ludwig/ Carlos Gomes, que era a linha do filme, e que desaparece completamente. Tal opção provoca um resultado desigual que nem sequer a virtuosa interpretação de Feist consegue “colar”. Há um nivelamento das histórias que faz sobressair umas menos evidentes e interessantes (o casal Isabel Ruth/ Fraulein Schneider e Fernando Gomes/ Herr Schultz que descobre o amor na Terceira idade mas que o contexto político não facilita – ele é judeu) e outras nitidamente esforçadas (os engates de Fraulein Kost/ Paula Fonseca, rameira barata sem nenhuma evolução) num elenco de ac-
tores e músicos com segurança e que, notoriamente, o tempo ajudou a encorpar. O resultado final não é particularmente inovador do ponto de vista dramatúrgico, e muito menos enquanto exercício de encenação (Dio-go Infante é só cumpridor de um plano) mas a ideia geral não é pre-tensiosa nem tenta disfarçar-se do que não é (não é um espectáculo inesquecível). A encenação pede aos intérpretes que representem sem que se percam em demasiados jogos de mímica (que existem), salvando, com o seu carisma algumas delas da sua dimensão cartoo-nesca, ou de cartão (David Ripado no duplo papel de Bobby, pretenso amante de Cliff em clubes idos, e jovem Nazi é, nesse aspecto, uma revelação). Mas não deixa, por isso mesmo, de ser uma surpresa que uma peça que reconhece a importância de ter actores que possam defender per-sonagens (ao contrário do último musical de Filipe La Féria, Um Vio-lino no Telhado, actualmente em exibição no Rivoli Teatro Municipal, no Porto – opção tanto mais surpreendente quando comparada com outros musicais como Música no Coração e Minha Linda Senhora), desperdice o potencial dramático de uma figura bigger than life como é Sally Bowles. Poderemos sempre dizer que a comparação com o ícone Liza Milenni corre contra Ana Lúcia Palminha. É verdade, não por incapacidade da actriz (que dispensava o estardalhaço mediático do programa de televisão À Procura de Sally), mas antes por falta de espessura de uma personagem que de protagonista no filme (força motriz da história e, naturalmente, veículo mediático da peça) passa a figura de segunda ordem, se não da espessura bidimensional da Fraulein Kost (com quase tanto tempo de cena quanto Sally Bowles) ou de Cliff Bradshaw (anódino aspirante a escritor cuja interpreta-ção desperdiça a ambiguidade sexual, política e estratégica da sua personagem), estranhamente pouco explorada. Não deixa de ficar a sensação de que o encenador, de tanto querer fugir ao modelo acabou por se contentar com uma qualquer outra coisa, a fazer as vezes mas nem tanto. Nem a canção Maybe this time, momento-chave de pro-funda crença antes da inevitável queda (interpretação bastante su-perior a Cabaret) faz evadir a sensação de que Diogo Infante receou o peso da personagem e, por isso, tratou de a extirpar de praticamente toda a carga simbólica que tão bem, e de forma nada impositiva, Liza Minelli desenhava.Não obstante, o notável desenho de som, o envolvente desenho de luz, as adequadas adaptações musicais (com excepção de Money, money) destacam-se da mediania do cenário, do mau gosto dos figurinos e da facilidade da coreografia. No todo, talvez a grande vantagem seja precisamente o facto de que a pretensão da encenação esteja con-centrada no desejo pessoal do encenador – vertida aliás para uns in-decifráveis textos do programa e toda a campanha de promoção que ilude e alimenta os preconceitos. Por isso mesmo, e porque a fasquia estava demasiado elevada, Cabaret é, afinal (e se não quisermos in-sistir em questões para-teatrais), uma bela noite de entretenimento, para citar um dos espectadores da noite em que assisti.
A peça apresenta-se até dia 15 de Fevereiro no Maria Matos – Teatro Municipal, em Lisboa.
67
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
PONTO CRÍTICOEugénia Vasques
Até aos anos 80, o território do teatro ainda se dividia, embora for-çadamente, entre “teatro independente” e “teatro comercial” e era neste último sector, leia-se Parque Mayer, que se acantonava o te-atro musical português.O primeiro gesto de perturbação deste status quo veio do estrangeira-do Ricardo Pais que, desde meados dos anos 70, agitava o jansenismo nacional com as suas experiências musicais de grande requinte com o que, de certo modo, introduziu no nosso fechado teatro, a estética pós-moderna. A Comuna, por seu lado, no início da década de 80, de-senhava uma estratégia programática de apelo e alargamento das audiências por meio de uma programação que intercalava o teatro de autor com um teatro musical “revisteiro” por meio da fórmula café-teatro, um espaço criado naquela Companhia em 1980.
A HERANÇA DE CABARET
Entretanto, foram acontecendo experiências de vulto, como foi o caso maior de Cálice de Porto, no Seiva Trupe, dos espectáculos do Teatro Infantil de Lisboa, os de Fernando Gomes, os espectáculos pontuais de actores em bares, até que, na década de 90, Filipe Lá Féria ba-ralha os dados, cria o seu modelo de teatro musical, abandona a Casa da Comedia e lança uma indústria à nossa dimensão com sede no Teatro Politeama (e agora com eventual ramificação no Teatro Rivoli do Porto).O próprio “teatro sério” não fica também indiferente à criação musi-cal. No decurso dos anos 90, as experiências musicais mais relevantes entroncam no “teatro épico” e, com Brecht no horizonte próximo, são criados importantes espectáculos musicais no Bando – que “inventa” uma ópera épica de texto português – e no Novo Grupo, onde João
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
68 OPINIÃO
Lourenço apresenta uma versão de grande qualidade da Ópera dos Três Vinténs (a que voltaria este ano, com renovado elenco).Passado o crivo do início dos anos 2000, o teatro português redefiniu fronteiras graças às novas gerações no terreno e graças às novas re-gras de financiamento promovidas pelo Estado. Esboçam-se novas áreas de influência, afirmam-se os novos maveriks e a relação com o musical continua snob (ainda que não ideológica) e, para além da recente “descoberta” do filão dos musicais “para adolescentes”, por parte de estruturas com ou sem relação com o teatro, só o Meridi-onal parece ter sabido inventar qualquer coisa que se aproxima de um modelo (musical) intracultural.
Diogo Infante é um dos novos maveriks cujo poder lhe advém da sua independência face às Companhias estabelecidas, da sua relação, sem preconceitos, com o mercado e, claro, do seu carisma natural, talento e capacidade de execução. Tudo isto lhe tem acarretado si-multaneamente a popularidade e uma espécie de sobrolho carregado da parte da «classe» teatral em virtude do que é entendido como o seu «facilitismo» e, sobretudo, da sua privilegiada relação com a tele-visão.Ora foi justamente na televisão que, como se sabe (À Procura de Sally) começou o historial deste amado (pelo público) e desprezado (pelos outros maveriks, velhos e jovens) Cabaret. As críticas mais substan-tivas ao trabalho concreto dizem respeito à falta de “coerência dra-matúrgica” ou de “rigor histórico” - leia-se uma criação de ambientes respeitando mais os sinais, realistas, da situação evocada pela acção que decorre na República de Weimar, na passagem de 1929 para os anos 30 -, à falta de criatividade da coreografia (Marco de Camillis), à falta de glamour dos figurinos (Maria Gonzaga), à pouca imagina-ção da cenografia (Catarina Amaro) ou à falta de acerto prosódico da tradução dos versos das canções (Ana Zanatti). Ainda que eu possa concordar, tecnicamente, com alguns (mas só alguns) destes reparos, a verdade, porém, é que o espectáculo, que não é, nem pode ser “realista”, afirma-se, comove e é – sem compa-rações inapropriadas com a super-encenação de Sam Mendes – um EXCELENTE espectáculo de actores! Para além da nossa Sally, a excelente actriz Ana Lúcia Palminha (não vi Sara Campina), do tocante Henrique Feist (que recria o papel que esboçou na TV), dos nossos comoventes Isabel Ruth e Fernando Gomes, da terrível Paula Fonseca, do intrigante Carlos Gomes, do ambíguo Pedro Laginha – aliás, actor e vocalista dos Mundo Cão --, da preciosa Adriana Queiroz, das bailarinas e bailarinos, cantoras e cantores, o que está em cena, no Kit Kat Klub, é Portugal: o da tele-visão, o da corrupção, o da intriga política, o da xeno e outras fobias, e, claro, o do encenador. Este é aliás um dos traços distintivos da linguagem em crescendo de Diogo Infante: uma resposta ao mundo sob forma de teatro.
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
69 OPINIÃO
O MUNDO-PALCO
texto Tiago Manaia
JOGO DE CENA
© D
R
FILME DE EDUARDO COUTINHO
70
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZODVD
JOGO DE CENA
A frase de William Shakespeare, “ o mundo é um palco” ficou connos-co para a eternidade. A simplicidade com que Shakespeare descreve, numa tirada, a vida que se mistura à ficção, resume bem a “confusão” que cativa (muitas vezes) o espectador perante uma obra dramática. Grande parte das histórias que nos são contadas têm fundo real, mas a realidade quando transformada em ficção depende do que nos conta a história. Pode ser tão crua como a vida quotidiana, mas surge sem-pre transformada na magia de um actor, ou na prosa de um escritor, transportando assim a realidade para o mundo dos sonhos, modifi-cando-a da vida. A ficção é um escape para o espectador, mesmo quando mostra rea-lidade. Por isso tantas vezes no cinema, o físico das personagens é mais bonito, os espaços mais abertos, as casas mais polidas. Porque uma história pretende sonho, mesmo quando no cinema apareceram dogmas para tornar as narrativas mais cruas, os actores continuam a transportar um pouco de irrealidade (e a luz da película embeleza aquela vida; a banda sonora dá-lhe dinâmica). Como deve o actor levar a realidade crua, violenta para a ficção?Eduardo Coutinho, realizador brasileiro de documentários, alimenta no seu filme Jogo de Cena esta questão sobrepondo relatos de mu-lheres reais com interpretações de actrizes. Respondendo a um anún-cio de jornal, 23 mulheres foram escolhidas para contar um momento marcante nas suas vidas. O realizador, ao perceber que a câmara as levava a embelezar os factos, decide pedir a actrizes profissionais uma interpretação dos mesmos testemunhos. As actrizes dão-lhes uma vida diferente, aproximam-se mais de ficção, ou talvez não, talvez aquelas histórias se parecem já demasiado com cinema. Numa tentativa de confundir o espectador, os relatos reais misturam-se com os momentos representados. Afinal aquelas mulheres con-tam a vida delas, quem são as actrizes? Quem representa e quem conta verdade?Quando estes testemunhos são interpretados por actrizes celebres (Marília Pêra, Andréa Beltrão, Fernanda Torres), as histórias verídicas passam de imediato para o universo ficcional. O espectador conhece aqueles rostos, está habituado a eles. As actrizes acrescentam-lhe técnica e emoção necessária. Sabemos que o realizador lhes pediu para não copiar as pessoas que viram nos vídeos, mas sim interpre-tar. Assistimos assim a três resultados diferentes. Marília Pêra tem a seu cargo uma pessoa característica, com tiques de expressão, ges-tos fortes. A mulher real que deve interpretar, quando esteve perante a câmara de Coutinho, comoveu-se e pouco se escondeu. Marília Pêra faz exactamente o contrário; não usa os grandes gestos, não utiliza a mesma linguagem crua, retêm lágrimas de emoção e quando canta ajusta a sua voz para não desafinar. Mas conta exactamente a mesma história. Podemos dizer que lhe dá uma dimensão dramática, adap-tando-a ao seu físico. Embeleza a realidade, contorna o real, aproxi-ma o sonho. Ao mostrar um frasco de um cristal japonês, diz que as lágrimas estão ao seu alcance. Se for essa a vontade do realizador passa o cristal perto dos olhos, chora muito se for necessário.
A actriz Andréa Beltrão deve recriar uma mulher que perdeu o seu filho e foi abandonada pelo marido. Neste caso, as palavras que a pes-soa real utilizou vão surpreender a sua interpretação, a actriz comove-se. A sua emoção está num lugar diferente da mulher que interpreta. Enquanto pessoa tem outros valores e não consegue abdicar deles durante o relato. Por isso chora. Diz mesmo que seriam necessários muito ensaios para não chorar, para ter a serenidade da pessoa que tenta recriar. Esquecemos o rosto de actriz célebre, enquanto espe-ctador agarramo-nos à emoção, deixamos de ver Andréa Beltrão e passamos a ver uma personagem com vida própria. No caso de Marí-lia Pêra pensamos: aqui está a actriz tal, a contar uma história... Não nos conseguimos distanciar da sua notoriedade. Fernanda Torres, tenta logo desde o início encontrar uma energia parecida com a pessoa que lhe foi atribuída. Mas a actriz bloqueia, diz que as palavras do texto que decorou saem antes da memória, ou que a sua memória é mais lenta que a da personagem que tenta encarnar. Sente que está a mentir, sente-se esmagada. Fica com a boca seca, a cara treme.Enquanto o espectador não é confrontado com o relato da mulher real, não percebe o que a faz bloquear. Porque a sua representação não soa falsa. Mas a actriz confessa não se sentir à altura da realidade. Diz que quando as personagens não existem, não pode ser confron-tada com uma possibilidade de mediocridade na sua interpretação. Ali está sempre a comparar-se a pessoa que tenta imitar, não se con-segue separar dela. É magnífico poder ver uma actriz de tal dimensão com dúvidas, vergonha ou pudor. Ver que quando o seu trabalho é ex-posto a um público (neste caso a equipa que a filma), sente inibições que não sentira antes, quando em casa ensaiou sozinha. Neste caso o corpo do actor é surpresa, ganha uma dimensão diferente quando revela fraqueza. Isso também cativa o espectador, mas Fernanda Tor-res sente-se frustrada neste processo.Os outros depoimentos do documentário confundem: nem sempre um relato que parece real é verdadeiro. Quando nos parece estar a ver uma pessoa da rua, a farsa é desmanchada por um olhar que se dirige directamente a câmara; trata-se de uma actriz. Mas este jogo só é possível quando as actrizes são desconhecidas do grande públi-co. E é numa mistura alucinante de relatos dramáticos, de histórias difíceis que por vezes se tornam cómicas, de vidas que se procuram na religião e nos poderes sobrenaturais que o espectador de Jogo de Cena encontra cinema. Os relatos no documentário de Eduardo Coutinho falam todos eles de sonhos, aquelas mulheres parecem ter procurado a câmara de filmar para os alcançar. Como se a tela tivesse essa poder, de transformar todos os que nela entram num momento de esperança. A ficção neste filme defende-se da realidade, defende-se dela quando a transporta para o palco. O mundo é palco novamente.
Jogo de Cena apresentou-se em Portugal no último DocLisboa, em Outubro passado. Para saber mais sobre o filme consulte: http://www.cinemaemcena.com.br/jogodecena/blog.asp. O trailer do filme pode ser visto em http://www.youtube.com/watch?v=i2UbAt6lTL8. Pode ainda ver entrevistas com o realizador aqui: http://www.youtube.com/watch?v=_4qV7pdhOnw e aqui: http://www.youtube.com/watch?v=m0PhyNIf7e0
71
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
DIAS DO JUÍZO
A FACE OCULTAAntónio Pinto Ribeiro
NAS MONTANHAS DE MPUMALANGA COM JOSEPH CONRAD E J.M. COETZEE
Chegamos a White River pelo fim da tarde, depois de viajarmos pela R40 a partir de Nelspruit, um dos grandes entrepostos comerciais sul-africanos. Num raio de mais de duzentos quilómetros esta cidade é uma espécie de centro comercial gigante onde se abastecem sul-africanos, moçambicanos e swazis. A R40 é uma estrada cuidada, de bermas limpas e bem sinalizada, que atravessa um planalto de agri-cultura e de floresta organizadas e planeadas. Nota-se pelas grandes plantações de bananas, de ananases, com rega automática, colheita mecanizada. À medida que se vai subindo, as plantações dão lugar a áreas de floresta de pinheiros, que alternam com eucaliptais, todas bem organizadas, protegidas por sebes e atravessadas por caminhos
que começam nas bermas da estrada para facilitarem o transporte das madeiras. Confirma-o a quantidade de camiões e atrelados com que nos cruzamos, conduzidos por camionistas prestáveis e cordi-ais, que facilitam a viagem aos automobilistas nos seus carros fami-liares ou jipes. Esta paisagem nada tem a ver com a floresta tropical e ameaçadora do Rio Congo, cenário do livro de Joseph Conrad, O Cora-ção das Trevas. Novela escrita em 1902, foi publicada originariamente em três números consecutivos da Blackwood’s Magazine, e serviu de inspiração a Francis Ford Coppola para o filme Apocalipse Now. Hoje é difícil ler este livro sem que as imagens do filme se interponham constantemente. Tal a força da obra realizada por Coppola, consegui-da também graças à engenhosa adaptação do script. O livro é, no en-tanto, também avassalador. Trata-se de uma viagem de descoberta ao interior de África, que é também uma viagem iniciática a nenhum lugar especial. Uma viagem ao interior do personagem Marlow, em confronto com uma natureza estranha, indomável, adversa que, mui-tas vezes, incarna o mal, juntamente com essa figura das trevas flo-restais protagonizada por Kurtz. A natureza é aqui aquilo que todos os exploradores e viajantes afirmam quando, depois do século XVIII, se atreveram a deixar a costa e a viajar para o interior do continente africano. Livingston, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, David Burton, André Gide, Italo Calvino, Paul Theroux, para todos eles, o grande enigma de África é a natureza. As suas árvores, diz Calvino.
No dia seguinte, ainda de madrugada, deixamos a pequena bed and breakfast dirigida pela viúva de um pintor de paisagens afrikaner que tinha a particularidade de ter decorado a casa com centenas de ossos de animais – sim, ambiente um pouco lúgubre - e apanhamos a R537 em direcção a Sabie e depois a R532. O objectivo é passar pelas várias cataratas existentes ao longo destas vias e pelo Blyde River Canyon. Passamos pelas Lisbon Falls e pelas Berlim Falls e ficou-nos a per-gunta do porquê dos nomes destas duas cataratas. Mesmo sendo um dia de semana, estes locais tinham vários visitantes sul-africanos – negros e brancos –, habitualmente dados a passeios na natureza, desportos nos rios e nos lagos, férias de aventura. A próxima para-gem foi em God’s Window e rapidamente percebemos o nome dado ao local: a “Janela de Deus” é um desfiladeiro gigantesco, tão fantás-tico quanto assustador, que de um determinado local permite visu-alizar um ponto de fuga que termina nas nuvens. De volta à estrada, que continuava a subir, tomando a forma de serpentina, com curvas apertadas e bermas estreitas, sobre desfiladeiros que vão crescendo, com a floresta a dar lugar a uma estepe rasteira e seca, chegamos ao Blyde River Canyon, um dos maiores do mundo. Aquela hora da tarde, aquela altitude, o frio e o vento tornavam difícil caminhar pelo seu recorte, que se estende ao longo de dezenas de quilómetros e o cujo abismo é de várias centenas de metros. O vento passando pelo estreito entre as montanhas assobia e a sensação da pequenez da condição humana sobrepõe-se a tudo o resto.
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
72 OPINIÃO
Já de noite continuamos a subir - um jipe solitário no meio de uma es-trada sinuosa, a lua cheia lá no alto -, até chegarmos aos 1800 metros de altitude. Depois, viramos para a R36 e a seguir tomamos a R555, começando finalmente a descida para a planície, até chegarmos, já de madrugada, a Pilgrim’s Rest. Esta é uma antiga cidade mineira, hoje praticamente sem actividade, cidade de passagem e de dormi-da apenas. Parece que o tempo não passou por aqui. O Hotel Royal, construído em 1899 como apoio logístico para o desenvolvimento da exploração mineira da época, dá hoje abrigo a turistas esporádicos e automobilistas perdidos. Os candeeiros dos quartos, antes alimenta-dos a gás, têm agora electricidade, mas o seu formato, assim como os cortinados, as banheiras, os sofás revestidos a chita e, sobretudo, o restaurante, tudo se assemelha a um saloon do farwest. O mesmo se passa com a garagem defronte ao hotel, a loja, o pequeno mu-seu das minas: tudo se parece com o cenário de um western. O frio é bastante para obrigar a acender a salamandra. De manhã, depois de um café americano, com panquecas e corn flakes, partimos em direcção a Joanesburgo, numa estrada coberta de geada. Passadas algumas horas sob o sol temperado da manhã, paramos de novo em Sabie para encher o depósito e tomar um café. Em frente à gasolinei-ra um pequeno letreiro anunciava Book case, livraria e alfarrabista. Depois de passar a porta, tão discreta quanto a tabuleta, um mundo inteiro e inesperado de livros estava ali à nossa frente: salas dando para outras salas, prateleiras amontoando-se sobre prateleiras, cai-xotes empilhados sobre caixotes, guardavam milhares e milhares de livros, antigos, novos, com capas amarelecidas, capas lustrosas e de design contemporâneo. A maioria eram livros de ou sobre África: ro-mances, álbuns de fotografia, atlas, novelas, sobre religiões, poesia, policiais, sobre a fauna e a flora. Eram tantos!. Todos eles recolhi-dos, guardados, organizados e alguns vendidos, concerteza, por dois velhos livreiros, cuja presença ali era tão improvável, quanto a sua livraria. No banco do alpendre do hotel continuo a leitura de Coetzee. “Mas esta gente, estes bárbaros, não pensam dessa maneira. Há mais de um século que aqui estamos, cultivamos terras do deserto, e levamos a cabo trabalhos de irrigação, semeámos campos e construí-mos casas sólidas e uma muralha à volta da cidade, mas continuam a ver-nos como visitantes, como transeuntes”. Um cenário inóspito serve uma história de crueldades descrita de forma simples por um magistrado envelhecido e demasiado comprometido com a verdade e a justiça para desistir de a defender. Os bárbaros, de tão ignorantes e simples ameaçam silenciosamente o Império. Assim também o Im-pério, de tão cego e ignorante, ameaça a sua própria existência. A debandada de uns e outros deixará os seus destroços. O que resta sobreviverá e esperará novos bárbaros. E isto é o outro lado da África do Sul pós-apartheid, violento e longe desta natureza pacífica, majes-tosa, acolhedora e divina.
NOVEMBRO / DEZEMBRO .08
73 OPINIÃO